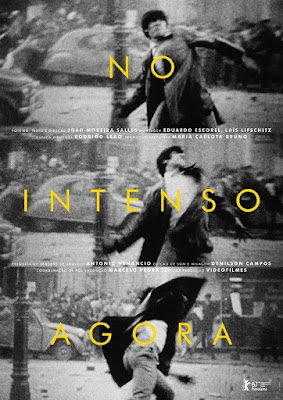Filmes sobre apocalipse zumbi se tornaram bastante
recorrentes nos últimos anos. E é claro que o excesso de obras no gênero
provocou uma exaustão criativa a um ponto que poucas produções realmente se
destacaram por trazer algo de efetivo interesse. Dentro dessas exceções, dá
para citar o longa sul-coreano “Invasão zumbi” (2016). Aa rigor não há grandes
novidades na forma com que o diretor Yeon Sang-ho conduz a sua narrativa. O que
diferencia o filme é uma encenação muito bem azeitada, que combina na medida
certa sequências de ação frenéticas e coreografadas com precisão e momentos
intimistas entre o contemplativo e o melodrama, além da caracterização visual
dos zumbis e da direção de arte de tons pós-apocalipticos comporem um todo
imagético de forte impacto sensorial. A concepção estética e temática engendrada
por Sang-ho foge daquele padrão asséptico de horror ocidental destinado para
grandes plateias. Ou seja, pela sua atmosfera sórdida e pessimista, “Invasão
zumbi” se mostra mais em sintonia com os trabalhos referenciais de George
Romero do que com produções despersonalizadas e inexpressivas como “Guerra
mundial Z” (2013).
Boa parte de amigos e conhecidos costuma dizer que as minhas recomendações para filmes funcionam ao contrário: quando eu digo que o filme é bom é porque na realidade ele é uma bomba, e vice-versa. Aí a explicação para o nome do blog... A minha intenção nesse espaço é falar sobre qualquer tipo de filme: bons e ruins, novos ou antigos, blockbusters ou obscuridades. Cotações: 0 a 4 estrelas.
quinta-feira, novembro 30, 2017
quarta-feira, novembro 29, 2017
Câmara de espelhos, de Dea Ferraz ***1/2
O discurso do senso comum, ou da “sabedoria popular” como
preferem alguns, é fortemente influenciado por uma opressora doutrinação
machista-patriarcal. Nessa vertente de “pensamento”, teorias duvidosas e
filosofia de botequim se incorporam no imaginário popular como verdades quase
inatacáveis. Uma das mais frequentes delas diz, naquelas generalizações
obscurantistas que muita gente adora, que a mulher tem um modo de agir tomado
pela emoção e intuição, enquanto o homem seria aquele cujas atitudes revelariam
uma maior racionalidade. O grande mote artístico-existencial do documentário “Câmera
de espelhos” (2016) é a ácida dissecação desse ideário sócio-cultural, em que a
visão crítica da diretora Dea Ferraz não se limita na exposição de sua temática
contestatória, mas também no próprio método estético concebido pela cineasta.
Não é à toa que em algumas passagens do filme são explicitados as técnicas
formais e o próprio direcionamento de conteúdo da obra. É como se Ferraz
quisesse evidenciar o seu cartesianismo de maneira contundente, elaborando uma
obra tanto marcada pelo rigor de sua execução narrativa quanto pela clareza de
suas ideias sobre a política dos sexos. A precisão no delinear de tal concepção
narrativa e filosófica, com sutis toques de psicodrama, se contrapõe de maneira
brilhante com a hipocrisia e preconceito dos diálogos entre os “personagens” do
seu filme. Há algo de perverso e mesmo manipulador na forma com que a diretora
extrai algumas perturbadoras constatações dos depoimentos que colhe ao longo do
filme, mas tal método se mostra legítimo e eficaz quando se percebe a
capacidade de “Câmara de espelhos” revelar com sensibilidade e lucidez uma
verdade que a sociedade e a mídia procuram dissimular com revoltante
desfaçatez.
terça-feira, novembro 28, 2017
Linha de frente, de Gary Felder **1/2
Filmes de ação com Jason Statham, com raras exceções,
praticamente se tornaram um subgênero. Narrativa e trama geralmente obedecem a
preceitos básicos e manjados – o protagonista interpretado por Statham é um
sujeito meio sorumbático que guarda alguns mistérios em seu passado, algo que
tem a ver com o fato dele ser na real um cara muito durão e que manda muita
porrada quando incomodado, e o roteiro se desenvolve com as premissas
previsíveis que farão com que distribua bordoadas e tiros para quem lhe
incomodar. Por vezes, tal receita até dá certo e rende alguns filmes acima da
média, mas na maioria das vezes a fórmula cai na mesmice. E esse é o caso de “Linha
de frente” (2013). A produção dirigida por Gary Felder insinua em alguns
momentos uma caracterização de situações e personagens mais perturbadoras,
principalmente quando o vilão vivido por James Franco está em cena. No final
das contas, entretanto, são pequenas nuances que aos poucos vão perdendo
importância em nome das convenções habituais do gênero mencionadas
anteriormente.
segunda-feira, novembro 27, 2017
O melhor professor da minha vida, de Olivier Ayache-Vidal ***
Que o pessoal responsável por fazer as versões de títulos de
filmes estrangeiros para português no Brasil tem alguns critérios questionáveis
já é mais do que sabido. Mas no caso de “O melhor professor da minha vida”
(2017) eles realmente se puxaram. O título escolhido tanto pode atrair ou
repelir possíveis espectadores e nos dois casos pela ideia equivocada que dá da
abordagem dessa produção francesa dirigida por Olivier Ayache-Vidal, além de
estar distante do tom mais sutil e poético do original “grandes mentes”. Em
síntese, o longa em questão não se filia aquela linhagem de obras edificantes que
mostram professores superando todas as dificuldades em uma sala de aula e dando
lições de vidas para os alunos e, por consequência, para a plateia. O filme de
Ayache-Vidal está mais vinculado em termos estéticos-temáticos à escola
realista da obra-prima “Entre os muros da escola” (2008). O roteiro não
apresenta soluções mágicas dentro da trama em que o arrogante professor
François Foucault (Denis Podalydès), proveniente de uma escola elitista de
Paris, se vê obrigado a dar aulas em um colégio da rede pública da capital. A
visão artística e existencial da obra sobre a relação ensino e meio social é
marcada pela lucidez amarga, ainda que permita de maneira coerente vislumbrar
saídas a partir de uma perspectiva humanista de educação. A concepção formal
para contar essa história é simples e tradicional, não tendo o mesmo grau de
inventividade e dinâmica estéticas da aludida obra de Laurent Cantet, mas não
se rende a truques baratos e consegue se mostrar como uma moldura contundente
para as intenções de Ayache-Vidal, com destaque para uma encenação de notável
fluidez e para as atuações vigorosas do elenco.
sexta-feira, novembro 24, 2017
Carmen, de Carlos Saura ***1/2
A premissa principal da trama de “Carmen” (1983) é algo
manjada, quase apelativa no seu teor melodramático: nos bastidores de uma
adaptação flamenca da ópera “Carmen” de Bizet, desenvolve-se um enredo
envolvendo paixão e ciúme entre o diretor-coreógrafo e sua principal atriz, em
paralelo com a história de temática semelhante da ópera encenada. Na verdade,
tal roteiro serve apenas como um pretexto para o diretor Carlos Saura expor na
tela aquilo que realmente lhe interessa – as sanguíneas coreografias flamencas,
a fusão exuberante dos temas originais de Bizet com o virtuosismo de Paco de
Lucía, o rigoroso formalismo baseado no detalhismo cênico e em composições
imagéticas exuberantes. Em se tratando de Saura, é claro que se prefere a sua
fase setentista baseada na síntese entre crônica intimista-política e narrativa
de teor delirante, mas dentro de sua filmografia voltada para a música, “Carmen”
é um de seus trabalhos mais contundentes.
quinta-feira, novembro 23, 2017
Crime desorganizado, de Jon Favreau ***
Na trajetória de Jon Favreau como diretor, pode-se perceber
uma certa linha conceitual em suas concepções narrativas, mesmo quando atua
dentro do esquema dos blockbusters dos grandes estúdios – a de buscar uma
releitura vigorosa dos modelos tradicionais do “cinemão” incorporando um viés
sardônico típico das produções independentes de onde despontou inicialmente. “Crime
desorganizado” (2001) representa uma obra de transição na filmografia do
cineasta – trata-se de um longa-metragem no gênero comédia policial ainda da época
em que Favreau era mais atuante dentro do universo “B” do cinema norte-americano,
sendo que alguns anos depois se tornou o diretor responsável pelo megassucesso “Homem
de ferro” (2008). “Crime desorganizado” centra a sua trama no ambiente de
picaretas e bandidos pé-de-chinelo, com um roteiro que privilegia a comédia de
erros, situações absurdas, diálogos sardônicos e alguns momentos de violência
entre a crueza e o cartunesco. Nada de muito original, Scorsese e Tarantino já
fizeram tudo isso de forma bem mais impactante, mas ainda assim a dinâmica
narrativa engendrada por Favreau consegue ser envolvente, extraindo ainda
caracterizações carismáticas de seu elenco (com destaque para o próprio Favreau
e para o habitual parceiro Vince Vaughn).
quarta-feira, novembro 22, 2017
Liga da Justiça, de Zack Snyder *
Se “Mulher Maravilha” (2017) representou um certo raio de
esperança para que as adaptações cinematográficas dos quadrinhos da DC pudessem
engrenar em algo minimamente convincente, “Liga da Justiça” (2017) prova que as
coisas continuarão na mesma. Estão lá todos os elementos habituais do padrão
Zack Snyder de produção: a ausência de uma narrativa fluente, sequências de
ação medíocres, concepção visual derivativa, roteiro beirando o simplório e
repleto de diálogos cretinos, caracterizações de personagens entre o
inexpressivo e o constrangedor (Ben Affleck passa a constante sensação de que gostaria
de estar em outro lugar). Ou seja, nada muito diferente das porcarias
anteriores “Superman – O homem de aço” (2013), “Batman vs. Superman: A origem
da justiça” (2016) e “Esquadrão suicida” (2016). É visível que a parceria
Warner/DC quer emular algumas das estratégias artísticas e comerciais dos
Estúdios Marvel, mas faz isso de maneira descuidada e puramente oportunista.
Assim, se o espectador quiser ver algum filme interessante no gênero aventura
de super-heróis, é bem melhor ficar com “Thor: Ragnarok”, que ainda está em
cartaz e é bem mais divertido, consistente e ousado do que essa tranqueira
chamada “Liga da Justiça”, obra que não faz jus à importância do supergrupo da
DC na história dos “comics” (para aqueles que duvidam disso, recomendo fases
sensacionais da Liga escritas por Keith Giffen e Grant Morrison).
terça-feira, novembro 21, 2017
O outro lado da esperança, de Aki Kaurismäki ***
O que diferencia “O outro lado da esperança” (2017) de
outras produções dirigidas pelo finlandês Aki Kaurismäki é o fato de ser a obra
do cineasta com a trama mais escancaradamente sócio-política. Vários detalhes
do roteiro apresentam forte ressonância com alguns dos principais temas que
dominam a sociedade europeia – a crescente xenofobia cultural, a cada vez mais
intensa migração de árabes para o continente em virtude de conflitos bélicos em
seus países natais, a onda de desemprego que joga a economia na informalidade e
na precariedade. Há um forte tom panfletário de crítica social na abordagem de
Kaurismäki, mas sem que isso afete o estilo habitual do diretor. Pelo contrário
– tais aspectos se complementam com bastante naturalidade e coerência. Dessa
forma, estão lá na narrativa sempre presente a comicidade baseada numa
encenação austera, a idiossincrasia ascética na caracterização de situações e
personagens, a empatia que brota de econômicos truques narrativos, os belos
números musicais que irrompem de maneira insólita, a atmosfera entre o realismo
e o poético que por vezes desconcerta o espectador. A conjunção de tais
aspectos artísticos acaba gerando alguns momentos memoráveis, principalmente na
ambígua sequência final, em que o trágico e o tom esperançoso convivem em uma
estranha harmonia.
segunda-feira, novembro 20, 2017
A conexão francesa, de Cédric Jimenez **1/2
Parecia promissor: “A conexão francesa” (2014) tem como base
principal de sua trama a recriação dos fatos reais que inspiraram o clássico “Operação
França” (1971). As boas expectativas, entretanto, ficaram só na intenção. A
produção dirigida por Cédric Jimenez é uma obra no gênero policial que fica
sempre no campo do derivativo – é bem feito e por vezes até envolve o
espectador, mas está muito longe da criatividade e ousadia estéticas da
obra-prima de William Friedkin. Encenação e montagem são excessivamente
convencionais, com uma atmosfera que por diversos momentos recai no melodrama
banal. A decepção é ainda maior quando se lembra que o cinema policial francês
contemporâneo já apresentou trabalhos bem mais memoráveis como “36” (2004) e “Inimigo
público nº 1 – Risco de morte” (2008).
sexta-feira, novembro 17, 2017
Diabo no corpo, de Marco Bellocchio ***1/2
Em boa parte da filmografia do diretor italiano Marco
Bellochio, sexo e política se ligam por conexões complexas e indissociáveis.
Por vias ora tortuosas, ora de sutil delicadeza, o erotismo adquire tanto
contorno libertários quanto de um discurso ideológico difuso. Tudo isso fica
evidente em “Diabo no corpo” (1986) – a encenação precisa e descarnada e a
crueza dos embates sexuais acentuam uma concepção artística e existencial
marcada por uma visão entre o amargo e o irônico dos dilemas e descaminhos da
política italiana nas últimas décadas do século XX. Assim, sexo beirando o
explícito e a temática espinhosa do terrorismo político parecem caminhar lado a
lado com uma naturalidade bizarra e por vezes até encantadora.
quinta-feira, novembro 16, 2017
Condado macabro, de Marcos DeBrito e André de Campos Mello *
Onde está o caminho para o horror nacional? Bem, algumas
produções até indicaram caminhos interessantes, vide obras como “Mangue negro”
(2008), “Quando eu era vivo” (2014) e “O diabo mora aqui” (2015), que buscaram
uma síntese entre fatores estéticos e temáticos tradicionais do gênero com
singulares elementos regionais e culturais. Ou seja, houve em tais filmes a
procura de uma linguagem própria que extravasasse o simples reciclar sem
imaginação de clichês narrativos. Pois “Condado macabro” (2015) vai justamente
na direção oposta dos longas mencionados – os diretores Marcos DeBrito e André
de Campos Mello parecem dispostos apenas em copiar/homenagear alguns de seus mestres
ou influências preferenciais (Rob Zombie, “O massacre da serra elétrica”, slasher
movies oitentistas, torture porn contemporâneo, palhaços escrotos, referências
pop a la Tarantino) na cara-de-pau e com um formalismo desleixado de dar nos
nervos. Pode ser que alguns truques estilísticos e uma certa atmosfera irônica
indiquem uma obra que não se pretende levar tão a sério, mas isso acaba soando
apenas como desculpa esfarrapada para justificar uma realização tão indulgente.
No mais, prevalecem detalhes patéticos como escolhas equivocadas no elenco (o
que dizer de atores e atrizes trintões interpretando adolescentes?) e um
roteiro desconjuntado e repleto de situações absurdamente cretinas (destaque
maior para o momento quando a turminha de “jovens” descobre o primeiro
assassinato e na hora da fuga perde longos minutos arrumando as malas!).
terça-feira, novembro 14, 2017
No intenso agora, de João Moreira Salles ***1/2
Em “Santiago” (2017), o documentarista João Moreira Salles
construía uma narrativa intimista vinculada a uma temática de caráter bastante
pessoal a partir de registros concebidos e realizados originários de filmagens
próprias. Já em “Últimas conversas” (2014), o derradeiro longa-metragem de
Eduardo Coutinho, Salles foi responsável por fazer os arremates finais no
material coletado por Coutinho, principalmente no que diz respeito à montagem,
tendo em vista a morte desse último. De certa forma, “No intenso agora” (2017)
parece evocar um cruzamento entre os dois filmes mencionados anteriormente: a
partir de registros audiovisuais e imagens exclusivamente de terceiros, o
cineasta constrói a sua narrativa marcada pelo subjetivismo e pessoalidade. O
trabalho de edição é engenhoso e delicado – filmagens amadoras, trechos de
documentários, passagens de produções de caráter institucional, partes de reportagens,
tudo vai se juntando e relacionando tendo como princípio uma visão artística e
existencial delimitada com sensibilidade. Essa visão se personifica na narração
de própria voz de Salles. O tom monocórdio da locução e o texto que sintetiza
relato histórico e reminiscências pessoais formam um conjunto perturbador e
ambíguo que dá um sentido particular desconcertante para as imagens e sons que
brotam da tela. A impressão sensorial é de um longo devaneio de Salles que
mistura melancolia, desilusão, nostalgia, ironia amarga e uma sutil e vaga
noção de deslumbramento. Pode-se argumentar que há um tom vacilante e difuso na
narrativa que sugira um direcionamento ideológico, mas a verdade é que “No
intenso agora” não tem um propósito primordial de convencer alguém de alguma
coisa. Está mais para a tentativa de materialização fílmica de determinados
sentimentos e desejos que talvez nem o próprio Salles saiba direito do que se
trata. E é nessa imprecisão nebulosa de intenções que reside o encanto de seu
documentário.
segunda-feira, novembro 13, 2017
Vazante, de Daniela Thomas ***
Ao se assistir à “Vazante” (2017), dá para entender um pouco
a polêmica que o filme de Daniela Thomas vem causando. O retrato que faz da
escravidão do Brasil no século XIX causa certo teor de perturbação por uma
abordagem emocional e histórica marcada pela sobriedade e ausência de uma
delimitação mais clara entre o “bem” e o “mal” – ou seja, não dá para dizer que
se trata de uma trama com mocinhos e bandidos. O retrato que o roteiro propõe
mostra o regime escravista entranhado na sociedade como algo normal,
corriqueiro. Na trama, as famílias de fazendeiros que possuem escravos não
apresentam uma caracterização de sádicos ou dementes racistas, mas sim de
pessoas normais, eventualmente atormentadas, que aceitam e se valem daquela
situação de exploração desumana como algo normal e aceitável no seu cotidiano.
Mesmo na ala dos escravizados predomina um teor de resignação, com eventuais
situações de revolta. Na verdade, essa visão da escravidão como algo normal e
corriqueiro é que dá a verdadeira dimensão assustadora da situação e ajuda
melhor a explicar como o racismo no Brasil apresenta todo esse contexto de
hipocrisia e crueldade na sociedade contemporânea. Voltando ao filme, também é um
acerto o trabalho minucioso de direção de arte e fotografia em preto e branco que
compõem um registro audiovisual marcado tanto pelo áspero realismo quanto por
uma beleza melancólica no seu sutil registro que vai das grandes tomadas de
paisagens naturais até enquadramentos e encenação de caráter intimista. O que
atrapalha o longa-metragem de Thomas é que no terço final da narrativa a obra
se converte num gasto melodrama envolvendo adultérios e gravidezes suspeitas que
por vezes beiram o novelesco banal, ainda que guardem um simbolismo por vezes
inquietante.
sexta-feira, novembro 10, 2017
Dois é bom, três é demais, de Anthony e Joe Russo **
Os créditos na direção de “Dois é bom, três é demais” (2006)
até sugerem algo de promissor. Afinal, trata-se dos irmãos Anthony e Joe Russo,
responsáveis por um dos melhores filmes da Marvel Studios, “Capitã América: O
soldado invernal” (2014). O resultado final dessa comédia, entretanto, deixa
bastante a desejar. Não chega a ser exatamente ruim – há alguns momentos daquele
humor grosseiro que efetivamente rendem algumas risadas, além de uma visão mais
crítica sobre questões comportamentais e mesmo intimistas dentro da sociedade
norte-americana. Tais aspectos positivos, entretanto, são sufocados pelo
convencionalismo excessivo e derivativo da forma com que a narrativa é conduzida,
além de um roteiro bastante conservador em suas resoluções. Afinal, o que dizer
de uma conclusão em que um eterno desajustado acaba se enquadrando nos padrões
ao se descobrir como um excelente palestrante de autoajuda?
quinta-feira, novembro 09, 2017
Terra selvagem, de Taylor Sheridan ***
Na ainda pequena amostragem que já se teve das obras do
diretor e roteirista Taylor Sheridan nas salas de cinemas, dá para dizer que
ele segue uma certa linhagem autoral. Em “Sicário” (2015) e “A qualquer custo”
(2016), produções que contaram com roteiros de sua autoria, pode-se perceber
uma expressiva síntese entre os preceitos do cinema de ação e abordagem e
atmosfera mais reflexivas, além de tramas que trazem em seus respectivos
subtextos uma sutil visão crítica sobre os descaminhos morais e sociais da
sociedade norte-americana contemporânea. Num contexto ainda mais amplo, são
filmes que revelam ainda uma releitura contemporânea dos gêneros policial e
faroeste. Em “Terra selvagem” (2017), longa-metragem de estreia de Sheridan
como diretor, tais características das mencionadas obras anteriores voltam a se
manifestar, sem, contudo, apresentar um foco artístico tão preciso. Há uma
narrativa envolvente, a memorável fotografia que valoriza a forte beleza
plástica das amplas paisagens geladas que servem de cenário para a trama,
sequências de ação muito bem dirigidas (o brutal tiroteio final é
particularmente antológico), encenação que por vezes cria momentos de sufocante
tensão psicológica e uma adequada trilha sonora climática composta e executada
por Nick Cave e Warren Ellis (ainda que dê a impressão de ser um tanto
derivativa de outros temas mais consistentes que eles fizeram para filmes
anteriores). O que incomoda em “Terra selvagem” é um excesso de cenas marcadas
por um forçado teor contemplativo e solene e um roteiro que força a barra em
diálogos filosóficos de almanaque, o que faz com que a narrativa não seja tão
equilibrada quanto as de “Sicário” e “A qualquer custo”.
quarta-feira, novembro 08, 2017
Na praia à noite sozinha, de Hong Sang-soo ***1/2
Os filmes do diretor sul-coreano Hong Sang-soo apresentam
elementos narrativos que são recorrentes. Não se trata de acomodação artística,
mas sim de depuração de uma linguagem cinematográfica muito peculiar. Isso fica
evidente em “Na praia à noite sozinha” (2017). Nessa obra mais recente, estão
lá aqueles aspectos formais e temáticos que já constavam em seus filmes
anteriores – os planos narrativos que se alternam entre o real e o imaginário,
a encenação de fluidez insólita e cativante (evidentes, por exemplos, nas
sequências em que os personagens dialogam ao redor de uma mesa jantando ou
bebendo), o estilo de filmar e editar que sugere uma síntese particular entre a
aparente rusticidade e a sofisticação, o roteiro que alude ao universo do cinema
como um de seus principais cenários. Dentro desse conjunto estético-textual, a
narrativa faz com que espectador embarque em um contexto sensorial de estranho
encanto, em que as situações da trama se sucedem quase como se fosse um sonho,
em que algumas soluções marcadas pelo absurdo acabam ganhando uma notável
coerência existencial-artística. Assim, cenas parecem se repetir com sutis
variações, assim como as próprias noções de espaço e tempo se mostram elásticas,
mas o encanto de tais excentricidades é filtrado dentro de um formato de
crônica cotidiana. Ou seja, parece complicado, mas no final das contas é de uma
simplicidade desconcertante.
terça-feira, novembro 07, 2017
O estigma de Satanás, de Piers Haggard ***
Na época de seu lançamento, “O estigma de Satanás” (1971) já
tinha um certo caráter anacrônico. Vinculado àquela escola de horror delineada
pela produtora inglesa Hammer, o filme do diretor Piers Haggard traz realmente
a impressão de uma obra datada, principalmente pela formatação tradicional de
seu roteiro, pela fleuma de sua encenação e pela sua atmosfera entre o gótico e
o pastoril. Ainda assim, esse passadismo por vezes tem algo atraente na forma
com que a sua narrativa se espraia na tela, sugerindo uma síntese entre o encantador
e o perturbador – é de se considerar que o longa capricha mais na violência e
violência gráficas do que os trabalhos da Hammer. Algumas trucagens e mesmo
detalhes da maquiagem e caracterização visual jogam o filme naquela zona
nebulosa do humor involuntário, impressão essa acentuada por algumas passagens
da trama excessivamente maniqueístas. Por outro lado, há uma estranha
ambientação difusa e ambígua em determinadas sequências, principalmente
naquelas envolvendo rituais de magia negra, além de um sutil subtexto a sugerir
uma crítica a um ordenamento religioso patriarcal e opressor. Por mais que a
conclusão da produção evoque a velha máxima do “bem vencendo o mal”, há um
traço de melancolia amarga na forma com o representante da ordem e da moral do
vilarejo interiorano reprime e esmaga o grupo de jovens e deserdados cultores
do “mal”.
segunda-feira, novembro 06, 2017
Thor: Ragnarok, de Taika Waititi ***1/2
Em alguns posts que escrevi neste blog falando sobre filmes
que adaptavam o universo das HQs de super-heróis para as telas, foi mencionada
a necessidade das obras do gênero em questão em procurar preservar uma certa
essência dos quadrinhos originais nessa transposição de uma mídia para outra
visando resgatar aquilo que personagens e histórias dos “comics” têm de
interessante e peculiar que justificam a sua perenidade. Pois “Thor: Ragnarok”
(2017) acaba sendo um desmentido enfático dessa tese! O diretor neozelandês
Taika Waititi pega figuras, conceitos e outros elementos diversos do clássico
universo da Marvel e os recria num contexto diferente e algo delirante, mas
sempre transparecendo uma coerência artística-existencial desconcertante.
Tentando resumir, dá para dizer que esse novo capítulo das aventuras do mais
famoso deus de Asgard pega toda aquela solene mitologia nórdica típica do
protagonista e a enquadra numa lógica estética e temática que remete
diretamente a produções de ficção científica barata dos anos 80 (impressão essa
acentuada pela divertida e esquisita trilha sonora baseada em tecnopop
concebida por Mark Mothersbaugh, ex-integrante da banda new wave Devo), o que
coloca o filme diretamente em sintonia com a franquia de “Os guardiões da
galáxia”. Tal orientação artística, entretanto, não faz com que “Thor: Ragnarok”
caia na mera paródia, ainda que haja um considerável número de cenas e diálogos
movidos a piadinhas infames. Na narrativa, há tudo aquilo que um bom filme de
super-heróis deveria ter: cenas de ação coreografadas e encenadas com precisão
e detalhismo memoráveis, concepção visual de grafismo expressivo e criativo,
sequências com forte tensão dramática e personagens bem construídos e
carismáticos. Ou seja, uma ótima surpresa para aqueles que tinham ficado decepcionados
com a tendência para o romantismo xaroposo dos dois primeiros filmes do
personagem. Já para quem conhecia o longa anterior de Waititi, a pérola cult “O
que fazemos na sombra” (2014), excêntrica comédia a tirar um sarro dos clichês
habituais dos filmes de vampiros, acaba não sendo uma surpresa tão grande
assim, ainda que “Thor: Ragnarok” revele uma forte evolução artística por parte
de Waititi.
quarta-feira, novembro 01, 2017
Meu amigo hindu, de Héctor Babendo *
O cineasta Héctor Babenco é um nome muito importante na
história do cinema brasileiro. Além de ter dirigido obras fundamentais da
filmografia nacional, como “Lúcio Flávio – Passageiro da agonia” (1977) e “Pixote
– A lei do mais fraco” (1981), também foi o responsável por produções
internacionais memoráveis como “Ironweed” (1987) e “Brincando nos campos do
senhor” (1991). Dessa forma, é evidente que causa bastante frustração saber que
o seu filme-testamento seja um longa-metragem tão decepcionante quanto “Meu amigo
hindu” (2015). Na verdade, os trabalhos imediatamente anteriores de Babenco, “Carandiru”
(2003) e “O passado” (2007), já mostravam um considerável declínio em termos de
inspiração criativa, mas nada também que chegasse aos picos de ruindade do
trabalho derradeiro do diretor. Resumindo, trata-se de uma egotrip narcisista e
autoindulgente do diretor, concebida e elaborada sem o menor traço do cuidado estético-narrativo
e da consistente densidade psicológica que eram marcantes em seus melhores
filmes. É claro que dá para entender que Babenco quisesse transpor para as
telas o seu drama pessoal real de um doloroso tratamento para uma grave doença
e o consequente processo de desagregação de sua vida pessoal decorrente desse
fato, além de mostrar também o seu reerguimento como indivíduo diante de tais
circunstâncias difíceis e complexas. Um artista tem o direito de manifestar
suas obsessões da forma como quiser, e no caso do diretor dá para dizer que a
sua história tem um alcance universal. O verdadeiro equívoco de “Meu amigo
hindu” é que essa viagem intimista ganha um tratamento formal desleixado e
derivativo, acentuado ainda mais por escolhas de produção tremendamente esdruxulas
– para começar, por melhor ator que seja Willem Dafoe, por que escolher um ator
norte-americano para o papel de um protagonista brasileiro, numa trama que se
passa no Brasil, com demais personagens vividos por um elenco brasileiro que
fala em inglês? E com o complemento de que quando a história passa a se situar
nos Estados Unidos aparecem novamente atores brasileiros interpretando
norte-americanos com um inglês macarrônico? E a partir do momento que Bárbara
Paz entra em cena interpretando a si própria, a produção toma outro rumo. E
para pior, caindo no francamente ridículo, beirando a comédia involuntária.
Assinar:
Postagens (Atom)