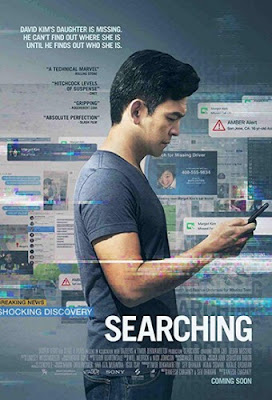Em termos conceituais, a trama de “O primeiro mentiroso”
(2009) tem até uma premissa interessante: em uma sociedade em que a ideia de
mentira é inexistente para as pessoas, o que aconteceria se alguém resolvesse
não falar a verdade? Os diretores Ricky Gervais e Matthew Robinson conseguem
arrancar alguns momentos engraçados a partir dessa trama, principalmente no
terço inicial da narrativa. Posteriormente, entretanto, o filme cai em um modelo
bastante convencional de comédia romântica moralista, jogando fora a
possibilidade de realizar uma abordagem mais ousada e contundente sobre a
hipocrisia e que certamente traria um resultado final bem mais memorável.
Boa parte de amigos e conhecidos costuma dizer que as minhas recomendações para filmes funcionam ao contrário: quando eu digo que o filme é bom é porque na realidade ele é uma bomba, e vice-versa. Aí a explicação para o nome do blog... A minha intenção nesse espaço é falar sobre qualquer tipo de filme: bons e ruins, novos ou antigos, blockbusters ou obscuridades. Cotações: 0 a 4 estrelas.
sexta-feira, setembro 28, 2018
quinta-feira, setembro 27, 2018
Vai trabalhar, vagabundo, de Hugo Carvana ****
Um filme como “Vai trabalhar, vagabundo!” (1973) consegue
sintetizar de maneira precisa quem era a pessoa que o concebeu, bem como o
contexto histórico em que foi lançado. Hugo Carvana era um ator que começou
fazendo chanchadas nos anos 50 e depois participou de expressivos filmes do
Cinema Novo. Assim, sua obra de estreia como diretor evidencia essa sua
trajetória. O roteiro se estrutura como uma comédia picaresca e que
frequentemente cai no pastelão. Ao mesmo tempo, a encenação tem um caráter
libertário e por vezes antinaturalista que beira o delirante que nos remete ao
modus operandi de Glauber Rocha. O que era para ser uma junção confusa de
referências artísticas acaba se revelando como uma narrativa bastante funcional
e divertida, carregada de um rico subtexto anárquico e humanista. A direção de
Carvana é segura e consegue dar uma coerência desconcertante para uma narrativa
aparentemente bagunçada – é como se o filme fosse uma grande brincadeira entre
amigos, impressão essa reforçada pela sequência final, mas com um acabamento
estético-temático que torna tudo muito envolvente para o espectador, além de
várias nuances artísticas antológicas, vide a ótima trilha sonora, os diálogos
muito espirituosos e um elenco em estado de graça (Paulo César Pereio, Nelson
Xavier e o próprio Carvana apresentam algumas de suas mais memoráveis
atuações). Obra fundamental na história do cinema brasileiro, “Vai trabalhar,
vagabundo!” faz estranhar como o mesmo Carvana apresentou em seus últimos anos
trabalhos tão insípidos e desajeitados como “Não se preocupe, nada vai dar
certo” (2011) e “Casa da mãe Joana 2” (2012).
quarta-feira, setembro 26, 2018
Uma questão pessoal, de Paolo e Vittorio Taviani ***
Nos anos 70 e na primeira metade da década de 80, os
irmãos-diretores Paolo e Vittorio Taviani realizaram preciosos filmes que
traziam uma peculiar marca autoral que sintetizava de maneira fluente tanto
princípios de abordagem naturalista quanto notáveis nuances de realismo mágico.
Posteriormente, sua filmografia, ainda que de considerável competência formal,
foi se tornando mais convencional e academicista. Somente com o brilhante “César
deve morrer” (2012) eles retomaram aquela veia criativa acima da média. Canto
do cisne dessa parceria (Vittorio morreu nesse ano), “Uma questão pessoal”
(2017) está bem longe do grande pico artístico dos Tavianni, mas ainda assim é
uma obra relevante e também consegue revelar em algumas passagens a típica assinatura
artística deles. A fraqueza da produção está no excessivo apego a uma estética
algo asséptica e mofada em algumas passagens, principalmente quando a trama
fica centrada nos flashbacks do triângulo amoroso no qual está envolvido o
protagonista Milton (Luca Marinelli). Na metade final do filme, entretanto,
quando a narrativa se concentra nas sequências de batalhas entre fascistas e
guerrilheiros na 2ª Guerra Mundial em uma área rural da Itália, prevalece um instigante
caráter mais sardônico e amargo a retratar a condição do absurdo existencial em
uma guerra – por vezes, a narrativa se mostra localizada em uma estranha área
entre o anedótico e o delirante, com destaque para a memorável cena de um
demente prisioneiro fascista que fica simulando para uma pequena plateia de
camponeses um solo de bateria em estilo jazz-improviso. A bela sequência final
de “Uma questão pessoal”, de forte teor poético e libertário, é outro momento a
evidenciar a particular concepção estética-humanista dos Taviani.
terça-feira, setembro 25, 2018
Barbara, de Mathieu Amalric ****
Há uma forte conexão artística-temática entre “Turnê” (2010)
e “Barbara” (2017), ambas dirigidos pelo Mathieu Amalric – os dois filmes
versam sobre os bastidores de produções culturais, mostrando como a tensão
dramática entre aqueles envolvidos em tais atividades também serve como força
criativa no resultado final de tais obras. Se em “Turnê” essa abordagem tinha
como cenário as viagens de uma companhia de shows de burlesco pelo interior da
França, tendo ainda uma narrativa de traço fortemente naturalista, em “Barbara”
temática e encenação se tornam mais intrincados – a trama conta a história da
produção de um longa de recriação dramática da trajetória da cantora e
compositora Barbara Brodi, com Amalric propondo um entrecruzamento constante
entre encenação e recortes documentais a um ponto em que a linha entre o real e
o imaginário fica bastante tênue. Esse viés estético não é gratuito, pois o
foco principal do roteiro está justamente no processo de composição dramática
da atriz Brigitte (Jeanne Balibar) para chegar no âmago de Barbara e como nesse
processo intérprete e personagem acabam por vezes se tornando uma entidade
única. Amalric também interpreta o diretor dessa fictícia produção biográfica e
seu papel evoca os dilemas e contradições principais da trama: o quanto daquilo
que é recriado em cena apresenta a verdade e o quanto é idealizado/imaginado? A
resposta para tais indagações nunca é direta e taxativa. Na verdade, não há nem
uma resposta propriamente dita. Nesse fascinante jogo de espelhos engendrado
por Amalric, o que efetivamente prevalece é a verdade da legítima e apaixonada
expressão artística dos indivíduos.
segunda-feira, setembro 24, 2018
Buscando, de Aneesh Chatanty *
Em tempos em que um grande número de pessoas passa boa parte
do seu tempo ligado diretamente ao mundo virtual, é natural que a própria
maneira tradicional de se ver um filme acabaria sofrendo essa influência. “Buscando...”
(2018) não é a primeira obra cinematográfica a ter praticamente toda a sua ação
configurada no espaço de uma tela de computador em diversas modalidades de
exposição virtual (redes sociais, sites de notícias, aplicativos de comunicação
e afins), mas talvez seja aquela nessa linhagem que tenha tido maior exposição
midiática até agora. Nesse caso, dá para dizer que estamos diante de um
daqueles casos de ruptura na linguagem cinematográfica? O resultado final da
produção dirigida por Aneesh Chatanty prova que não é para tanto. Por mais que
os diversos truques estéticos remetendo a uma incorporação de recentes recursos
tecnológicos de software a uma formatação narrativa de cinema estejam
presentes, eles pouco contribuem para que o filme fuja dos mais manjados e
irritantes lugares comuns no gênero suspense em termos formais e temáticos. A
edição de “Buscando...” é até competente na preservação de um certo ritmo
narrativo, mas a impressão geral é de um trabalho raso e genérico que não
apresenta qualquer momento efetivo de alguma transcendência sensorial em termos
de experiência audiovisual. Se em um primeiro momento há até um impacto de
novidade na forma de sua encenação, com o tempo tais trucagens vão se revelando
apenas enfadonhas e cansativas. No mais, o roteiro acentua essa impressão de “velha
novidade”: na saga de um pai especialista em tecnologia da informação que está
na busca de sua filha desaparecida, há em seu subtexto aquela ideologia tão
requentada em Hollywood nos últimos tempos de um justiceiro sagaz e obstinado
que se revela muito mais eficiente no combate às injustiças que a máquina
corrupta e ineficiente do poder estatal (Bolsonaro, MBL e neoliberais em geral
adoram esse ideário...).
quarta-feira, setembro 19, 2018
Camocim, de Quentin Delaroche ***
Em um primeiro momento, a impressão que se tem do
documentário “Camocim” (2017) é que o filme escolhe como protagonista a cabo
eleitoral Mayara Gomes e que na formatação da narrativa ela seria como uma
espécie de heroína idealista na sua luta em ajudar a colocar na câmara dos
vereadores de sua cidade um rapaz que ela acredita representar os seus ideais
sócio-políticos. Nos diálogos de Mayara com parentes, amigos, conhecidos e
eleitores há uma sugestão de que o partido adversário representaria uma velha
maneira de fazer política baseada no poder patriarcal e no clientelismo. Ou
seja, é como se a obra dentro de sua abordagem temática tivesse um certo
caráter maniqueísta a evocar uma luta entre o bem e o mal. Em algumas nuances
estéticas e textuais, entretanto, a obra vai adquirindo uma visão artística e
existencial mais complexa e amarga sobre a realidade que é focada pela câmera. Por
mais que as atitudes e ideias de Mayara se mostrem atrativas pela veemência e
espontaneidade com que são retratadas em tela, ao se observar o contexto tanto
em um âmbito familiar e pessoal da garota quanto do cenário coletivo da cidade
se pode perceber que o embate político está muito mais parecido com uma
rivalidade clubística, com tintas de um arrivista jogo de interesses
sócio-econômicos, do que com um conflito evidentemente ideológico. Entre os
dois partidos que disputam corações e mentes em Camocim em nenhum momento há
uma efetiva contraposição de princípios ideológicos, apenas há uma
diferenciação pelas suas respectivas cores e números (aliás, vale lembrar que
os números de tais partidos são de duas entidades de evidentes tendências de
direita). Nessa perspectiva, o documentário dirigido por Quentin Delaroche
consegue refletir de maneira perspicaz e contundente a pobreza do debate
político dentro da sociedade brasileira, em que a questão ideológica é
banalizada e menosprezada em nome de uma difusa e hipócrita combinação de
moralismo, religiosidade obscurantista, carreirismo e insensibilidade social.
Nesse sentido, a aridez formal de “Camocim” parece o reflexo da aridez de
humanismo e racionalidade no atual cenário eleitoral brasileiro.
terça-feira, setembro 18, 2018
O banquete, de Daniela Thomas ***
Há uma forte conexão artística-existencial entre “O banquete”
(2018) e o filme imediatamente anterior de Daniela Thomas, “Vazante” (2017). Se
neste a cineasta traçava os primórdios da formatação da elite brasileira, em
que seus valores e costumes estavam ligados de maneira intrínseca ao regime
escravista da sociedade brasileira colonial, na obra mais recente mostra essa
mesma elite no princípio da década de 90 perdida entre um hedonismo dissimulado
de sofisticação e inconsequentes e arrogantes demonstrações de seu prestígio
sócio-econômico. E entre os dois filmes há pelo menos mais uma coisa em comum:
entregam menos do que prometem. Os primeiros dois terços da narrativa de “O
banquete” são sedutores, com Thomas conseguindo apresentar uma bela síntese
entre preciosismo imagético, interação magnética entre sinuosos movimentos de
câmera e trilha sonora jazzy que dão uma certa sensação “chapada” ao
espectador, espirituosos diálogos e algumas ótimas atuações de seu elenco (Caco
Ciocler, por exemplo, tem a melhor atuação disparada de sua carreira). É
interessante também que a cineasta consegue oferecer uma interessante
perspectiva feminina na exposição do machismo implícito nas relações de poder
entre os personagens – Mauro (Rodrigo Bolzan) e Plínio (Ciocler), detrás da
respeitável aparência de jornalista e advogado bem-sucedidos, aos poucos se
revelam como indivíduos imaturos emocionalmente e com enorme vacuidade moral. O
ato final do filme, entretanto, se aprofunda em soluções formais e temáticas
óbvias em excesso, o que acaba tirando muito do impacto dramático e mesmo do
cruel sarcasmo que antes predominavam no filme. O que era para ser catártico se
converte em melodrama barato, desperdiçando, inclusive, contundentes aspectos
da trama e mesmo personagens que insinuavam algumas relevantes nuances
psicológicas.
segunda-feira, setembro 17, 2018
Encontros e desencontros do amor, de David Wain *
Se em “Mais um verão americano” (2001) o diretor David Wain
fez uma inventiva e sarcástica reinvenção dos filmes de acampamento dos anos
80, em “Encontros e desencontros do amor” (2014) ele procura fazer algo parecido
em relação ao gênero comédia romântica, mas com um resultado final bem menos
satisfatório. De certa forma, essa mesma proposta artística já havia sido
elaborada em “Uma comédia nada romântica” (2006), inclusive com a mesma pegada metalinguística
e também teve um saldo pífio. Falta ao filme de Wain uma narrativa orgânica e
um roteiro mais ousado. Por mais que a aparência seja de uma moderna tiração de
sarro com um modelo consagrado de produção, as escolhas criativas do cineasta
fazem com que o filme caia em uma formatação conservadora e despersonalizada.
Há até algumas boas piadas e o elenco apresenta algumas atuações carismáticas.
É muito pouco, entretanto, para sustentar o interesse.
sexta-feira, setembro 14, 2018
O predador, de Shane Black ***
Não se trata de ser saudosista, mas a comparação inevitável
que se estabelece entra o clássico “Predador” (1987) e o recente “O predador”
(2018) também marca o diferencial do que mudou em termos estéticos e comerciais
no que diz respeitos a filmes de ação norte-americanos blockbusters em 30 anos.
Entre as grandes virtudes do longa dirigido por John Mc Tierman estavam a
narrativa e encenação enxutas, a atmosfera casca-grossa na interação entre
personagens e situações do roteiro, as explosões de violência econômicas e graficamente
impactantes e uma certa aura de mistério que se conseguia manter em torno da
figura do alienígena caçador de humanos, fazendo com que ele se tornasse um
ícone cinematográfico por todos esses anos e expandisse a sua influência para
outras mídias. Nessa continuação dirigida por Shane Black, o enfoque é bastante
diferente – as cenas de ação são espalhafatosas, o ritmo narrativo é frenético,
há um tom infanto-juvenil na caracterização de personagens e situações (não à
toa, uma das principais figuras da trama é um garoto autista que sofre bullying
e é um gênio!), os momentos de violência explícita lembram uma caracterização
típica de video grame e as motivações dos predadores são tão esmiuçadas pelo
roteiro que não resta espaço algum de tensão dramática para eles. Tudo isso não
quer dizer necessariamente que o filme de Black seja ruim. É até bem divertido
por vezes. Por mais que se saiba que Black já fez coisa muito melhor (“Beijos e
tiros”, “Dois caras legais”), o cineasta revela um seguro domínio da narrativa
e consegue garantir o interesse do espectador em meio a uma enxurrada de
piadinhas bestas e algumas obviedades formais e temáticas. A sensação de
incômodo está na impressão final de que “O predador” dificilmente colará em
nosso imaginário como o inesquecível filme de McTierman.
quinta-feira, setembro 13, 2018
O protetor 2, de Antoine Fuqua ***
No seu terço inicial, a impressão é que “O protetor 2”
(2018) vai ficar repetindo de maneira incansável aqueles mesmos irritantes maneirismos
estéticos e narrativos que marcaram o primeiro filme, além do roteiro semelhante
a evocar simplórios moralismos. Só que chega um momento no filme, entretanto,
que o próprio diretor Antoine Fuqua dá a impressão de encher o saco desse
marasmo criativo e resolve entregar uma bem decente obra no gênero ação,
chegando até lembrar aquele cineasta que pareceu tão promissor no ótimo “Dia de
treinamento” (2001). Há ótimas sequências de pancadarias e tiroteios, a tensão
dramática de algumas cenas realmente envolve o espectador e mesmo Denzel
Washington se mostra bem convincente em sua caracterização taciturna e algo
altista. Aliás, a presença de Washinton aliada ao formalismo competente
engendrado por Fuqua no faz lembrar algumas memoráveis produções dirigidas pelo
saudoso Tony Scott. Para coroar essa bela transformação do filme, toda aquela
sequência final do duelo do protagonista Robert McCall (Washington) com um assustador
grupo de vilões paramilitares em um vilarejo litorâneo tomado por uma violenta
tempestade é antológica na sua caracterização imagética e na coreografia da
ação, algo como um faroeste reciclado com acentuadas doses de violência
gráfica.
quarta-feira, setembro 12, 2018
A freira, de Corin Hardy *
O Hospital Mãe de Deus, localizado em Porto Alegre e que tem
em sua administração uma fundação religiosa católica, poucos dias após o STF
ter liberado a terceirização em praticamente todas as áreas de trabalho,
demitiu mais de 300 funcionários do seu quadro, colocando em seus respectivos
lugares terceirizados que ganham bem menos e com direitos trabalhistas
sensivelmente reduzidos. A uma atitude cruel e de pura exploração econômica
como essa se pode dar o nome de cristã. Sério, depois de uma medida dessa
alguém pode dizer que tem medo de satã e outras “maléficas” entidades místicas
fictícias afins? Começar uma resenha sobre uma nulidade artística como “A
freira” (2018) com essa informação pode parecer até estapafúrdio, mas não pude
resistir a fazer tal comparação depois de constatar a carolice constrangedora e
estúpida desse filme dirigido por Corin Hardy e ficar sabendo da postura
covarde e gananciosa do referido hospital. É claro que a produção
cinematográfica em questão não é ruim somente por tal analogia existencial-temática.
Trata-se de uma narrativa que engendra de maneira canhestra clichês baratos de
horror com os mais batidos preceitos formais e textuais do gênero aventura,
tudo isso disposto em tela da forma mais despersonalizada e asséptica possível
e com um roteiro artificioso e estéril repleto de simplificações infantilóides.
No conjunto geral, algo como uma cruza bastarda escrota de “O exorcista” (1973)
com “O código Da Vinci” (2006), e bem distante das eficientes atmosferas de
horror retrô da franquia “Invocação do mal” da qual se originou. E a decepção
com o filme fica ainda mais acentuada quando se observa a sua defesa patética
da igreja católica como guardiã moral e espiritual do mundo.
terça-feira, setembro 11, 2018
A destruição de Bernardet, de Pedro Marques e Cláudia Priscilla ***1/2
Nas sequências iniciais de “A destruição de Bernardet”
(2016) há trechos de áudio de um depoimento em que um homem discorre sobre a
importância de Jean-Claude Bernardet como crítico de cinema, ressaltando suas
virtudes e relevância dentro do panorama cultural brasileiro, bem como também
questiona de maneira veemente sobre a sua opção de nos últimos anos enveredar na
área da representação em alguns filmes de escasso caráter comercial. A partir
de tal veredicto, o documentário dirigido por Pedro Marques e Cláudia Priscilla
constrói a sua narrativa, mantendo um caráter ambíguo em suas intenções
artísticas e existenciais: a obra quer contestar tal depoimento, reforçar suas
impressões ou quer fazer tudo isso ao mesmo tempo? Mais do que simplesmente se
mostrar como personagem principal, Bernardet parece conduzir de maneira sutil e
algo perversa o direcionamento do filme que versa sobre a sua vida. Há um certo
teor de narcisismo na sua figura, tanto naquilo que ele fala como na maneira
como se comporta em cena. Esse viés megalômano, entretanto, só reforça o
humanismo e o intenso questionamento estético do documentário. Depois de passar
anos analisando minuciosamente as produções alheias, é como se Bernardet
resolvesse unir a sua visão sobre o cinema, seus questionamentos intelectuais e
mesmo alguns aspectos intimistas e configurasse tudo isso em um legado fílmico.
Nesse sentido, “A destruição de Bernardet” se conecta profundamente com os longas
de Kiko Goifman e Cristiano Burlan nos quais ele atuou, com todos eles servindo
como a coerente extensão do pensamento vivo de Bernardet, revelando assim forte
coerência com a sua atividade de crítico cinematográfico. Acariciando e comendo
borboletas, ironizando carinhosamente detratores, questionando a dominação
sócio-econômica do capitalismo sobre a arte e a vida, expressando-se em
estranhas danças e vocalizações, voltando-se com seca lucidez sobre
reminiscências pessoais e valorizando o cinema como importante atividade
artística para gerar desconforto e inquietações na sociedade pequeno-burguesa
ocidental, Bernardet toma para si a obra em que ele a princípio deveria ser
apenas a “temática principal” e a modela dentro do seu amplo projeto cultural-pessoal,
mostrando que vai ser sempre o indomável indivíduo intelectual-artísta de difícil
categorização.
segunda-feira, setembro 10, 2018
Yonlu, de Hique Montanari *
A história de Vinicius Gageiro Marques, o Yonlu, é bastante
emblemática dos nossos tempos. Adolescente com peculiar talento para música,
ilustração e poesia, foi bastante prolífico no ambiente de seu quarto ao
produzir a sua arte. Após se matar aos 16 anos, com a ajuda de uma espécie de
foro virtual de auxílio para o cometimento de suicídios, acabou tendo suas
canções, poemas e ilustrações divulgadas de maneira póstuma (até David Byrne
lançou um disco com as gravações de Yonlu). Dessa forma, era natural que uma
longa-metragem biográfico de sua trajetória despertasse curiosidade e
expectativas. O resultado final de “Yonlu” (2017), recriação dramática dos últimos
meses de vida do garoto, entretanto, deixa bastante a desejar tanto no sentido
de valorizar a figura humana e artística de seu protagonista como obra
cinematográfica em si. Existe a pretensão de que a narrativa esteja em sintonia
com a própria natureza instável e complexa do protagonista, fazendo com que o
roteiro e a atmosfera da obra por vezes se vinculem a uma abordagem delirante e
algo fragmentada. O problema principal desse direcionamento estético é que a
soluções criativas do diretor Hique Montanari acabam se revelando equivocadas
em termos de concepção e execução. O tom de onirismo de algumas sequências
resvala em truques audiovisuais apelativos e simplórios (as representações
cênicas do fórum de incentivadores de suicídio, por exemplo, parecem videoclipe
oitentista bagaceiro). Mas pior mesmo são as cenas de entrevista de uma
repórter (Mirna Zpritzer) com o psiquiatra (Nelson Diniz) que consultava com
Yonlu – diálogos e dinâmica cênica dão a impressão de vídeo institucional.
Thalles Cabral no papel do protagonista também é outra escolha problemática da
produção, pois sua interpretação está mais para uma síntese incômoda de
fotogenia asséptica e anacrônica afetação James Dean. Por isso que um dos
melhores momentos do filme, ao lado dos bons números de animação da obra,
ocorre no final quando aparecem cenas documentais do próprio Yonlu atuando em
números caseiros, dando a impressão de insólito encantamento pela bizarrice,
espontaneidade e autoironia de sua postura. Aliás, um pouco de senso de humor,
ainda que mórbido, típico da persona de Yonlu, é o que faz falta nesse
cruzamento de “Malhação”, psicodelia barata e discurso conservador que
representa o filme de Montanari.
quinta-feira, setembro 06, 2018
Caçada na noite, de John Mackenzie ****
Em termos de roteiro, “Caçada na noite” (1980) não se
diferencia muito daquele modelo clássico do gênero gangster. A trama obedece a
uma lógica típica de conto moral – há aquela exposição de uma rotina hedonista
originária do lucro dos “negócios”, alguns tiroteios e porradarias caprichando
no grafismo violento, lições maquiavélicas sobre poder e a inevitável e
fatalista queda dos anti-heróis diante de circunstâncias novas (ou seja, outros
bandidos mais espertos). Uma coisa há de se admitir, entretanto: mesmo dentro
desses parâmetros previsíveis, o roteiro do filme dirigido por John Mackenzie é
muito bem delineado, tanto no encadeamento das situações quanto pelos ótimos
diálogos. A força da obra também está na sua precisa e objetiva encenação e na
narrativa equilibrada, o que faz com que o filme tenha uma tensão dramática
perturbadora e mesmo uma certa ironia desconcertante. Outro acerto é a ótima
direção de atores, fazendo com que Bob Hoskins e Helen Mirren tenham
desempenhos antológicos. Nesse forte conjunto artístico, “Caçada na noite” acaba
se encaixando em um expressivo rol de grandes filmes policiais britânicos,
estando ao lado de obras do naipe de “Carter – O vingador” (1971) e “Nem tudo é
o que parece” (2004).
quarta-feira, setembro 05, 2018
O espelho, de Jafar Panahi ****
Dentro daquilo que se pode classificar como típico no cinema
iraniano, “O espelho” (1997) estaria dentro dos preceitos do que se poderia
classificar como previsível: uso de crianças como atores, toques de
metalinguagem, sutil crítica sócio-política. Por outro lado, a forma com que o
diretor Jafar Panahi combina tudo isso é muito original e transforma o ator de assistir
ao filme em questão em uma experiência única, independente do seu país de
origem. Mergulhar em sua narrativa é uma jornada desconcertante para o
espectador – parte-se de uma abordagem narrativa linear e naturalista, em que o
registro seco e objetivo de um fato do cotidiano, a espera da filha pela mãe
que devia buscá-la na escola e a consequente peregrinação da garota pela cidade
na tentativa de chegar em casa, cria uma tensão palpável, além de trazer
momentos preciosos na captação de sensações e sentimentos de anônimos nas ruas
e nos veículos coletivos, até que de forma abrupta tudo isso se rompe ao se
caracterizar como uma filmagem interrompida, ou seja, um filme dentro do filme.
A partir desse momento, “O espelho” se converte em várias realidades que se
sobrepõem, como universos paralelos se chocando. Panahi incorpora aparentes “defeitos”
e imperfeições como importantes elementos estéticos e narrativos, dificultando
a precisa determinação entre o real e o imaginário, mas sem esconder a sua
própria verdade artística-existencial: por mais que esse jogo formal algo
delirante confunda a nossa percepção, sempre está presente a atmosfera de
opressão de uma inclemente sociedade patriarcal e obscurantista.
terça-feira, setembro 04, 2018
Rainha do mundo, de Alex Ross Perry ***
A impressão que se pode ter do cineasta norte-americano pela
amostragem de sua filmografia até agora é a de uma espécie de Woody Allen
reciclado e mais moderninho a retratar o fechado mundo de uma certa elite cultural
de “jovens adultos” envolvidos em um restrito universo artístico. A semelhança
é tanta que em “Rainha do mundo” (2015) vem a lembrança daqueles filmes em que
Allen procurava dar vazão à sua obsessão pelas carregadas atmosferas
psicológicas de alguns clássicos de Ingmar Bergman. Ou seja, não chega a ser
algo propriamente muito original, mas é de se reconhecer que por vezes Perry
consegue extrair momentos bem inquietantes em seu filme. No agressivo jogo de
agressões psicológicas entre as amigas neuróticas Catherine (Elisabeth Moss) e
Ginny (Katherine Waterston), disfarçado em hipócritas conversas “civilizadas”,
fica estabelecida uma ambígua atmosfera de sutilezas comportamentais e pura
desintegração mental. Se a encenação e ambientação por vezes sugerem uma
abordagem quase resvalando no asséptico, em momentos pontuais o filme deixa
extravasar uma perturbadora fúria cênica, principalmente quando retrata a
avassaladora dissolução mental de Catherine – nesse aspecto, claro destaque
para a interpretação de Moss, que remete ao desempenho antológico de Bette
Davis em “O que terá acontecido à Baby Jane?” (1962).
segunda-feira, setembro 03, 2018
As aventuras amorosas de um padeiro, de Waldir Onofre ****
Se o documentário “Histórias que o nosso cinema (não)
contava” (2017) defende com a ardor a ideia de uma parcela do cinema brasileiro
popular setentista que apresentava um forte grau de inventividade artística e
um grande teor de crítica e ironia tanto à ditadura militar da época quanto aos
hipócritas valores morais da sociedade ocidental contemporânea, “As aventuras
amorosas de um padeiro” (1976) é um exemplar enfático dessa tendência. No único
longa-metragem dirigido por Waldir Onofre, há uma junção ao mesmo tempo
alucinada e de coerência desconcertante de diversos elementos estéticos e
temáticos que se unem em uma narrativa que em um primeiro momento evoca
preceitos formais e textuais típicos das comédias de costume da época, mas que
aos poucos vai se convertendo em algo cada vez mais deliciosamente
inclassificável. Em uma produção “normal” do gênero na época, as desventuras
sentimentais-sexuais de Rita (Maria do Rosário) rumariam para uma conclusão
moralizante e conciliadora a evocar a infalibilidade das instituições
sócio-familiares. No filme de Onofre, entretanto, tudo isso vai para o espaço,
com a formatação de conto moral e a encenação naturalista se dissolvendo em
nome de uma atmosfera delirante de musical macumbeiro, insólitas referências
eruditas, estilizado senso cênico e senso de humor entre o pastelão e o
sardônico. Essa bizarra e genial abordagem formal acolhe com sensibilidade um
roteiro de caráter libertário e contestador a dissecar sem concessões sexismo,
racismo e preconceito de classe. O resultado final desse conjunto artístico sui
generis é uma das obras “malditas” (no sentido de desafiadora) mais marcantes
da história do cinema brasileiro, ao lado de pérolas como “Os monstros de
babaloo” (1971) e “SuperOutro” (1989).
Assinar:
Postagens (Atom)