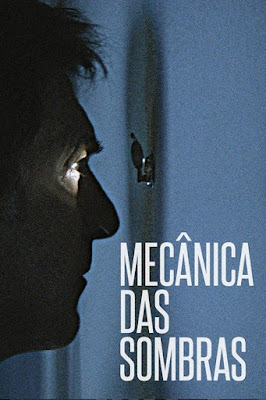Os primeiros filmes do diretor capixaba Rodrigo Aragão são marcados por
uma certa precariedade de recursos de produção, típicos de produções
independentes. Isso não quer dizer, entretanto, que tais trabalhos caíram no
amadorismo trash. Muito pelo contrário. Aragão demonstrou em filmes antológicos
como “Mangue negro” (2008) e “A noite do chupa-cabra” (2011) um considerável
domínio narrativo e fortes traços autorais em determinados elementos estéticos
e temáticos. O formalismo oscila de forma desconcertante entre o sórdido e sujo
até um requinte plástico que beira o barroquismo. Tentando resumir, é algo como
se aquele Peter Jackson em seus filmes iniciais de horror, naquela síntese enlouquecida
de humor negro e grafismo escatológico, tivesse surgido dentro de um contexto
regionalista do Espírito Santo. Nessa estranha fórmula artística, sobressaem-se
detalhes como a trilha sonora que combina temas incidentais tradicionais com marcantes
melodias e ritmos folclóricos, as atuações intensas de boa parte do elenco, os
efeitos especiais artesanais de sensorialismo imagético desconcertante e as
insanas e escrotas atmosferas de tensão sobrenatural. Todas essas qualidades se
mostram ainda indeléveis em “A mata negra” (2018), primeiro longa-metragem de Aragão
que contou com um orçamento bem mais generoso originário de uma lei de
incentivo. É claro que os efeitos digitais dão uma cara mais palatável para o
filme, mas o que fica na memória mesmo do espectador é a forma com que elementos
convencionais do gênero horror são apresentados sem que caiam na caricatura e
na mesmice. Em uma trama envolvendo magia negra, satanismo e sordidez humana, “A
mata negra” se configura como um trabalho de momentos efetivamente assustadores
e que não cai na assepsia previsível daquelas franquias de terror que grassam
nos multiplexes da vida. Seus momentos cômicos não são apenas um alívio cênico
diante de jorro de sangue e negativismo que brotam constantemente da tela – na verdade,
acentuam ainda mais o caráter perturbador do filme. E mesmo o gancho para uma
possível continuação que aparece na conclusão da história se mostra mais como
um desdobramento natural do que simples oportunismo mercadológico.
Boa parte de amigos e conhecidos costuma dizer que as minhas recomendações para filmes funcionam ao contrário: quando eu digo que o filme é bom é porque na realidade ele é uma bomba, e vice-versa. Aí a explicação para o nome do blog... A minha intenção nesse espaço é falar sobre qualquer tipo de filme: bons e ruins, novos ou antigos, blockbusters ou obscuridades. Cotações: 0 a 4 estrelas.
quarta-feira, maio 30, 2018
terça-feira, maio 29, 2018
O fundo do ar é vermelho, de Chris Marker ****
Considero que o melhor
equivalente artístico-existencial para o documentário “O fundo do ar é vermelho”
(1977) é a o ensaio histórico-literário “Rumo à Estação Finlândia”. Ambas as obras
procuram traçar um amplo panorama sobre a evolução do pensamento socialista no
mundo, bem como as suas concepções teóricas acabaram se cristalizando em ações.
Se o livro de Edmund Wilson é marcado pelo rigor intelectual e filosófico, o
filme de Chris Marker estrutura sua narrativa como se fosse um atordoante fluxo
sensorial e poético, em que a ordem linear dos fatos e ideias não se constrói
de forma exatamente clássica e acadêmica. O espectador entra em um vórtice de
trechos audiovisuais de origens diversas, de reportagens para a televisão a
registros amadores. A narrativa pode parecer por vezes caótica e aleatória, mas
essa impressão é enganadora – de maneira sutil, há sempre o senso de unidade e
coerência na direção de Marker. Essa sua formatação desconcertante na realidade
procura obedecer ao forte caráter emocional e ideológico que a torrente de
imagens e depoimentos extravasa com fúria e paixão, sem que se perca,
entretanto, uma lúcida visão sobre os rumos conturbados dos indivíduos e seus
ideais. Dento de tal concepção artística e temática, por vezes as sensações se
avolumam como uma montanha russa, variando da sincera admiração e carinho por
pessoas e suas convicções e atitudes até a melancolia pelas suas várias
derrotas e repressões sofridas – nesse último caso, tal percepção se aprofunda
de maneira dolorosa no terço final da narrativa. Apesar disso, “O fundo do ar é
vermelho” está muito longe do óbvio pessimismo ou da “desilusão” hipócrita. O
vigor da narrativa e dos ideais humanistas expostos é aquilo que fica efetivamente
gravado em nosso imaginário. A força das imagens finais e o belo discurso que
as acompanha reforçam esse caráter desafiador e poético do documentário de
Marker.
quarta-feira, maio 23, 2018
Guarnieri, de Francisco Guarnieri ***1/2
Nos anos 60, os atores
Paulo José e Gianfrancesco Guarnieri contracenaram juntos em peças importantes
da história do teatro brasileiro. Por uma dessas coincidências da vida, “Todos
os paulos do mundo” (2018) e “Guarnieri” (2017), documentários que focam a vida
desses dois artistas, acabaram tendo estreia nacional nos cinemas praticamente
na mesma época. Mas enquanto o primeiro filme tem um enfoque primordial na
figura de seu protagonista como homem de cinema, na obra dirigida por Francisco
Guarnieri, neto do cinebiografado em questão, o conceito é outro. Logo no
início da narrativa, é estabelecida a relação entre o Gianfrancesco Guarnieri
ator/diretor/dramaturgo/letrista/ativista político com a contraparte desse
mesmo homem como pai de família. No desenvolvimento do filme, sutilmente, essa
ideia sempre estará presente. Nos primeiros momentos, há uma percepção de um certo
ressentimento emocional por parte do diretor pelo fato de Gianfrancesco nunca
ter correspondido a um certo padrão idealizado do que deveria ser um pai e avô
ativo e presente. Aos poucos entretanto, a partir de uma concepção artística que
beira o dialético na forma com que vários trechos de imagens de arquivo de
peças, filmes, novelas e entrevistas que trazem Gianfrancesco em cena se
entrecruzam com os depoimentos dos filhos Paulo e Flávio, essa visão de mágoa
familiar vai se esvanecendo, principalmente na constatação natural e fluida que
se passa a ter da tremenda riqueza cultural e pessoal que irradiava da figura
de tal patriarca. A vida e obra de Gianfrancesco Guarnieri refletiam não apenas
alguns dos mais relevantes episódios artísticos do Brasil da década de 50 até
hoje, como também alguns dos mais emblemáticos dilemas sócio-políticos da nação
que reverberam ainda na atualidade. Diante da efervescência de um cenário como
esse e da própria postura humanista de Gianfrancesco, fica claro para o neto
cineasta, filhos e o espectador de que tentar encaixar tal indivíduo a partir
de critérios moralistas e maniqueístas seria simplista e vazio. O próprio personagem
principal do documentário afirma em um determinado momento que não consegue se
encaixar nesse tipo de definições. O ponto mais fascinante de “Guarnieri” está
justamente na forma com que uma inquietação intimista acaba se convertendo de
maneira sensível e precisa na exposição contundente e apaixonada do enorme legado
artístico e existencial de um homem singular.
segunda-feira, maio 21, 2018
Todos os paulos do mundo, de Gustavo Ribeiro e Rodrigo Oliveira ***
Para o documentário “Todos
os paulos do mundo” (2018) há um ponto primordial a ser expor em sua narrativa:
a de mostrar a trajetória do ator Paulo José como homem de cinema. Sua fase
inicial no teatro, de relevante papel histórico e existencial na sua formação
dramática, é evidenciada como um preparativo para aquilo que desenvolveria em
sua plenitude na grande tela. Seus trabalhos na televisão dão a impressão de
uma circunstância profissional necessária em períodos que o cinema nacional se
encontrava em dificuldades. Mesmo a vida pessoal não chega a ser detalhada de
maneira minuciosa, limitando-se com sensibilidade a oferecer pequenos e
expressivos recortes sobre romances, amizades e outros tipos de afetos. Em
termos formais e narrativos, os diretores Gustavo Ribeiro e Rodrigo Oliveira
usam recursos simples e eficazes, juntando uma ágil edição a expor trechos
antológicos de alguns dos principais filmes em que Paulo José atuou, sem se
apegar a um sentido linear cronológico, com textos de impressões e reminiscências
pessoais escritas pelo próprio ator e narrados por ele e convidados. Esse
conjunto estético-temático acaba construindo um contundente panorama não
somente da vida de seu protagonista como do próprio cinema nacional e de seus
principais realizadores nos últimos 50 anos, indo de obras-primas de Domingos
de Oliveira e Joaquim Pedro de Andrade, passando por produções expressivas de
Luís Sérgio Person e Murilo Salles, abarcando mesmo a retomada dos trabalhos
nativos na década de 90 e chegando a filmes nacionais desse século. Por vezes
essa fórmula narrativa chegar a soar cansativa e acomodada, caindo até para um
certo sentimentalismo excessivo, mas ainda assim “Todos os paulos do mundo”
consegue oferecer um retrato fiel e entusiasmado de um artista inquieto e
também de algumas das principais realizações culturais brasileiras nas últimas
décadas.
sexta-feira, maio 18, 2018
Viagem fantástica, de Richard Fleischer ***1/2
Há uma diferença fundamental
entre o anacrônico e o clássico? Um filme como “Viagem fantástica” (1966) acaba
suscitando esse tipo de dúvida. Dentro do gênero aventura fantástica, a
produção dirigida por Richard Fleischer se formata por elementos praticamente
em desuso no cenário contemporâneo. O ritmo da narrativa parece quase
contemplativo diante da dinâmica frenética, por exemplo, dos filmes de
super-heróis da Marvel ou da DC, as trucagens baseadas em coloridos cenários e
seres de isopor e afins estão distantes do hiper-realismo dos efeitos digitais
proeminentes nos dias de hoje e a encenação tem um caráter entre o canastrão e
o ingênuo que nada lembra o naturalismo exacerbado daquilo que é considerado “moderno”
pelos lançamentos do mês. No conjunto geral de tais escolhas artísticas,
entretanto, há um considerável grau de encanto sensorial que faz com o
espectador até se sinta dentro de uma espécie de nostálgico delírio onírico.
Por mais que algumas ideias do roteiro e mesmo da concepção visual do filme
possam parecer estapafúrdias, quase infantis, há um toque de elegância e
sobriedade na direção de Fleischer que dá à “Viagem fantástica” uma notável
coerência artística-existencial.
quarta-feira, maio 16, 2018
Desejo de matar, de Eli Roth **1/2
De certa forma, pode-se dizer que a refilmagem de “Desejo de matar”
(2018) é bastante daquilo que se poderia esperar da junção das pessoas e
elementos envolvidos na produção. Há o viés fortemente conservador do roteiro
na defesa do cidadão que se arma e faz justiça com as próprias, o gosto pela
plasticidade brutalista explícita beirando o gore que o diretor Eli Roth tanto
aprecia, a propensão de Bruce Willis para papéis de durão (ele até tenta capengamente
no início dar alguma densidade dramática para o protagonista, mas só engrena
mesmo quando reencarna o John McClane de “Duro de matar”). E é claro que essa
combinação casca-grossa recebe um verniz de “modernidade” em termos narrativos
e estéticos para deixar tudo mais palatável para as plateias contemporâneas. Ou
seja, ao invés da atmosfera e formalismo sóbrios e quase reflexivos do filme
original de 1974, há aquele ritmo frenético e ambientação barulhenta típicos da
escola “Velozes e furiosos”. O real problema dessa nova versão não está
propriamente na tentativa de atualização ou mesmo no caráter ostensivamente
fascista e maniqueísta com que expõe suas convicções e dilemas. O que impede
que a obra atinja um patamar artístico parecido com o clássico de Michael
Winner é simplesmente o fato de que todos os elementos que eram para serem
renovadores ou que pretensamente tinham um viés de insólito ou mesmo original
não são efetivamente desenvolvidos e trabalhados até o fim. Tudo fica pelo meio
do caminho. Tanto que as melhores cenas são aquelas em que Roth faz lembrar o violento
barroquismo gráfico da franquia “O albergue” (ainda o seu grande momento
criativo nas telas). No restante, o novo “Desejo de matar” soa genérico como um
tanto de produções no gênero que aparecem com considerável frequência nos
multiplexes da vida.
terça-feira, maio 15, 2018
Raw, de Julia Ducornau **1/2
A diretora Julia Ducornau busca em “Raw” (2016) uma
aproximação ao terror antropológico repleto de simbologias, mas procurando
aproveitar alguns preceitos narrativos tradicionais do gênero horror. Algumas
ideias do roteiro são interessantes, relacionando o canibalismo da protagonista
Justine (Garance Marillier) com fundamentos atávicos e mesmo a toques de
feminismo. Essa pretensão de crítica à sociedade patriarcal, entretanto, acaba
se diluindo em uma abordagem narrativa e estética marcada por um certo tom “clean”.
Há algumas sequências dominadas por uma interessante plasticidade brutal e
sangrenta. Ou seja, os melhores momentos do filme é quando afunda o pé na jaca
do terror gore. Quando envereda pelo lado do suspense psicológico é que as
coisas descambam – nesse último quesito, faltou uma caracterização de situações
e personagens mais aprofundada e menos superficial em termos de densidade
dramática.
segunda-feira, maio 14, 2018
O presente, de Joel Edgerton **
Você já viu esse filme diversas vezes, e em algumas oportunidades
ele era bem melhor... Talvez o certo destaque que “O presente” (2015) ganhou
venha do fato de ser a estreia na direção de um longa do ator Joel Edgerton,
daí como ele seguiu direitinho o manual do suspense contemporâneo acabou gerando
uma boa impressão. Há até uns bons sustos em alguns momentos, mas o filme não
vai muito além do óbvio e previsível. As viradas dramáticas do roteiro obedecem
a uma mecânica engessada, a encenação nada se afasta do naturalismo sem graça e
a atmosfera e concepção visual são marcadas pela assepsia. Por vezes, há uma
sugestão de leve “transgressão” por apresentar uma discreta crítica ao superficialismo
e arrivismo existenciais do homem branco ocidental. Mesmo isso, entretanto,
perde-se em uma conclusão moralista e machista. Para quem se interessa pelo
gênero e temática cinematográficos em questão, recomenda-se a versão porrada de
Martin Scorsese para “Cabo do medo” (1991), um exercício brutal, exagerado e
brilhante de suspense no cinema.
sexta-feira, maio 11, 2018
Morrer aos trinta anos, de Romain Goupil ****
A temática relativa ao maio de 1968 é um ponto em comum
entre os documentários “Morrer aos trinta anos” (1982) e “No intenso agora”
(2017). Tanto que esse último cita explicitamente em imagens o primeiro. Mas há
fortes diferenças existenciais e artísticas entre tais produções. Se na brilhante
obra brasileira dirigida por João Moreira Salles a narrativa se baseia
exclusivamente em imagens de arquivo filmadas por terceiro e apresenta um olhar
desencantado e subtexto sutilmente conservador, no filme francês dirigido por
Romain Goupil o enfoque é praticamente o oposto – grande parte do que é
mostrando em termos de imagens vem de filmagens próprias de Goupil e sua visão pessoal
sobre os eventos tem expressivos traços melancólicos, mas sem perder uma certa
verve de entusiasmo e carinho por todos aqueles fatos nos quais teve uma
participação direta. E aí está justamente um dos grandes pontos de fascínio em
seu longa-metragem, em que o intimismo e a ambientação sócio-política parecem
se entrelaçar como se fosse uma coisa só. A dinâmica dos fatos mostrados em
tela não tem apenas o caráter histórico de situações que estão congelados hoje
em dia no tempo e no espaço para estudos. Na concepção de Goupil toda aquela
engrenagem ainda está em movimento, ou melhor, já estava em franco
desenvolvimento antes mesmo do maio de 1968. Assim, “Morrer aos trinta anos”
não é um simples relato histórico. Também é a expressão, mista de emotividade e
racionalismo, de uma série de sentimentos, desejos, utopias e frustrações,
elementos esses que se configuram intensamente na trajetória pessoal de Michel
Recanati, o real protagonista do documentário, agente ativo do maio de 68 e
seus desdobramentos ao longo dos anos e que teve um fim precoce ao cometer
suicídio. Na obra-prima de Goupil, não cabe explicações prontas para as
atitudes de Recanati e seus companheiros ou precisos julgamentos morais para os
fatos mostrados na tela. No final das contas, o que resta para o imaginário do
espectador é o fascínio e o mistério diante de personagens que desafiaram um
ordenamento sócio-político marcado pela opressão e pragmatismo desumanos.
quinta-feira, maio 10, 2018
Arábia, de Affonso Uchoa e João Dumans ****
Se em “A vizinhança do tigre” (2014) o diretor Affonso Uchoa
criava uma fascinante síntese entre o documental e a encenação, em “Arábia”
(2017), codirigido com João Dumans, ele parte para uma concepção narrativa
aparentemente mais tradicional, que se formata como drama ficcional. Ainda
assim, é uma obra que ainda se vincula a um conceito de “cinema verdade”,
afinal boa parte do roteiro é diretamente inspirada nas memórias do ator
Aristides de Souza, ator que dá vida a Cristiano, protagonista da obra em
questão. Esse filme mais recente parece continuar de onde o anterior parou – se
“A vizinhança do tigre” era um flagrante do cotidiano de brincadeiras e
contravenções de um bando de garotos da cidade mineira de Contagem, em “Arábia”,
um jovem delinquente desiste da vida de pequenos crimes na mesma cidadezinha e
resolve percorrer o interior de Minas Gerais em busca de trabalho e de alguma
estabilidade social e emocional em sua vida. Os caminhos estéticos e textuais
de Uchoa e Dumans para narrar esse pequeno conto existencial até obedecem a
critérios de linearidade e atmosfera realista, mas apresentam alguns desvios
marcados pelo insólito, pela sutileza e pelo mistério. O verdadeiro começo da
trama vem na exposição de uma rotina de privações econômicas e emocionais de um
garoto (Murilo Caliari) que por acaso descobre o diário de Cristiano, falecido
recentemente. A partir desse momento, a narrativa é conduzida pela voz do
protagonista a ler o seu diário a expor diversos percalços e poucas alegrias e
paz de espírito. O ritmo da narrativa é sóbrio, sem sobressaltos, dando a
impressão da marcha inexorável rumo a um fim melancólico. Na jornada de
Cristiano, está presente tudo aquilo que é comum na biografia de milhões de
semelhantes ao personagem principal – exploração sócio-econômica,
invisibilidade perante a uma sociedade alienada, o progressivo embrutecimento e
desesperança. “Arábia” não cai no discurso e nas armadilhas do sentimentalismo
fácil. Subtexto e recursos narrativos realçam mais o lado de surda revolta e
desilusão perante um sistema que vende a ilusão de uma sociedade que permite a
ascensão de todos pelos próprios méritos, quando na verdade massacra
impiedosamente os despossuídos e qualquer um que ouse se rebelar contra a
perversidade e hipocrisia de tal status quo. A dureza nas constatações do
filme, entretanto, não impede que se evidencie uma pungência comovente na sua
abordagem artística.
quarta-feira, maio 09, 2018
Vingadores: Guerra infinita, de Joe e Anthony Russo ***1/2
A forte mortandade de personagens em “Vingadores: Guerra
infinita” (2018) pode impressionar os neófitos do Universo Marvel nos
quadrinhos. Afinal, nas histórias originais das HQs, alguns dos principais
heróis, vilões e coadjuvantes importantes sucumbirem de forma dramática não
chega a ser algo exatamente raro. Mesmo porque é bastante provável que algumas
edições depois de tais “mortes” as mesmas figuras apareçam ressuscitadas mediante
explicações estapafúrdias. Então, é quase certo que na continuação a ser
lançada em 2019 todo mundo que morreu reapareça vivinho sem maiores
consequências. Isso, entretanto, retira os méritos dessa obra mais recente dos estúdios
Marvel? A resposta é não. E até pelo contrário. Talvez o mais fascinante nesse
filme dirigido pelos irmãos Russo esteja na capacidade de envolver o espectador
em sua narrativa frenética mesmo que abuse de certo clichês temáticos e
formais. O fato de ter de conciliar várias tramas paralelas na mesma narrativa
por vezes torna o ritmo dessa um tanto irregular, além do roteiro ser
claudicante em qualquer cena que envolva uma atmosfera, digamos, mais intimista
(com exceção para a dinâmica que se estabelece entre Thanos e Zamora). Tirando
tais deslizes compreensíveis, afinal se trata de um blockbuster que obedece a
uma fórmula criativa bem delimitada pelo estúdio e até pelo mercado consumidor,
“Vingadores: Guerra infinita” consegue reproduzir com fidelidade e convicção
boa parte dos encantos que as sagas espaciais dos Vingadores traziam em alguns
de seus maiores clássicos (incluindo aí também algumas histórias escritas pelo
mestre Jim Starlin para Capitão Marvel, Warlock e Thanos). A combinação entre
aventura épica e tiradas humorísticas é bem dosada, gerando algumas sequências
de ação memoráveis (nesse sentido, destaque absoluto para as cenas protagonizadas
pela trinca Thor, Rocket Raccoon e Groot). E Thanos (Josh Brolin) tem uma
caracterização impressionante em termos imagéticos e de densidade psicológica,
disparado o melhor vilão no universo fílmico da Marvel. Para quem tinha se
decepcionado com o brochante “Era de Ultron” (2015), “Guerra infinita”
representa uma bela retomada criativa para a franquia e dá um considerável
gostinho de quero mais para a continuação.
terça-feira, maio 08, 2018
O roubo da taça, de Caito Ortiz ***
É interessante como às vezes um filme aparentemente
despretensioso e escapista pode ser muito mais revelador do espírito de uma
época do que muitas produções ditas sérias. Esse é justamente o caso de “O
roubo da taça” (2016). A trama ficcional usa elementos de fatos reais,
principalmente ligados ao célebre roubo da taça Jules Rimet no início dos anos
80, tendo uma narrativa que remete a clássicos elementos de comédias de erro e
chanchadas, abordagem essa que é ainda mais acentuada pela ótima e debochada
atuação de Paulo Tiefenthaler no papel do protagonista Peralta. A atmosfera do
filme tem um forte caráter caricatural, até em excesso em algumas situações,
mas consegue evidenciar um dos lados mais tenebrosos do período da ditadura
militar no Brasil – a síntese de bagunça, brutalidade e completo desrespeito ao
estado de direito por parte do conjunto militares, policiais e demais
colaboradores do regime. A simples falta de método e ordem para investigar um
crime, usando como critérios únicos a violência e a ocasional sorte, reflete um
país que parecia resistir a qualquer custo a ter como base elementos essenciais
para qualquer nação como o humanismo e o racionalismo. Os azares e equívocos de
Peralta em meio a um ambiente marcado pelo absurdo político-existencial que
beira o kafkaniano tem algo de tragicômico, e que de certa forma dá uma
impressão ainda mais perturbadora para o espectador quando esse percebe que as
coisas não mudaram muito nos dias presentes.
segunda-feira, maio 07, 2018
Psicopata americano, de Mary Harron ***
O grande mérito de “Psicopata americano” (2000) é o fato
dele sair do lugar-comum ao tratar de sua temática – ao invés da típica
formatação dos gêneros suspense e horror a versarem sobre assassinos seriais, a
produção dirigida por Mary Harron prefere a abordagem de uma comédia de humor
negro em tons algo delirantes e repleta de simbologias sobre as relações de
poder na sociedade contemporânea. Por vezes, essa carga de metáforas visuais e
textuais se mostra um tanto óbvia e explícita na forma com que relaciona o
desejo insaciável por violentos homicídios do protagonista Patrick Bateman (Christian
Bale) com a sua rotina competitiva e vazia em termos existenciais como
executivo bem-sucedido financeiramente e frequentador das altas rodas sociais
na vida noturna nova-iorquina. O fato da trama se situar nos anos 80, período
de ascensão e auge dos yuppies, acentua ainda mais esse lado de crítica ao
consumismo desumano e desenfreado a se refletir no sadismo sem limites do
personagem principal. Esse lado de fábula moral previsível, entretanto, é
compensado por algumas sequências memoráveis na sua síntese de comicidade
insólita e exagerada brutalidade gráfica. A atuação de Bale é outro ponto alto,
conciliando fúria alucinada e senso de humor canastrão com uma naturalidade
admirável.
sexta-feira, maio 04, 2018
O melhor lance, de Giuseppe Tornatore *
A filmografia do diretor italiano Giuseppe Tornatore sempre
andou em um frágil equilíbrio entre um respeitável academicismo
formal-narrativo e uma atmosfera mista de solene e banal, com roteiros com forte
tendência para o novelesco sentimental. Por vezes, tal concepção artística
rendeu alguns bons filmes sem grandes sobressaltos criativos (“Cinema Paradiso”,
“Estamos todos bens”), mas nos últimos tempos ela vinha desandando em uma série
de obras esquecíveis. “O melhor lance” (2013) é o fundo do poço para Tornatore.
Todos aqueles preceitos estéticos e temáticos que por vezes soavam incômodos em
trabalhos anteriores agora soam simplesmente odiosos. Tornatore aparentemente
domina uma técnica, mas de maneira estéril, sem vida, às vezes até resvalando no
rococó ridículo. O tom operístico da narrativa tem a pretensão de uma
grandiosidade barroca – no resultado final, o que fica na cabeça do espectador é
uma narrativa marcada por uma opulência brega e vazia. Se o diretor tivesse
conduzido o filme como uma intencional grande paródia megalomaníaca talvez
pudesse criar algum ponto de interesse para o espectador minimamente exigente.
O problema é que ele faz tudo a sério mesmo, inclusive querendo dar uma
patética dimensão épica para um roteiro ridículo e descerebrado. Nem a novela
mexicana mais vagabunda seria tão equivocada.
quinta-feira, maio 03, 2018
Gênios do crime, de Jared Hess ***
O diretor norte-americano Jared Hess conseguiu um feito
considerável ao mostrar uma concepção narrativa renovadora para o gênero
comédia nos filmes “Napoleon Dynamite” (2004) e “Nacho Libre” (2006). Em “Gênios
do crime” (2016), ele se mostra mais adaptado a convenções em termos formais e
temáticos, mas ainda assim consegue oferecer uma produção acima da média. Sua
encenação tem uma fluidez notável, principalmente em termos de interação entre
os personagens, valorizando as nuances entre o sórdido e o cômico presentes no
roteiro. É claro que os tradicionais clichês narrativos desse tipo de produção
estão presentes. Contudo, eles por vezes até são pervertidos em nome de uma
visão ácida sobre a breguice e o arrivismo de uma parte expressiva da sociedade
norte-americana, além da propensão para o humor negro e algo escatológico de
algumas sequências. Hess extrai ainda boas atuações de seu elenco (mesmo os
habituais exageros pretensamente cômicos de Zach Galifianakis se mostram
eficientes em cena). Nesse contexto geral, “Gênios do crime” acaba soando como
uma paródia escrota do melhor que os irmãos Coen fizeram dentro daquela síntese
entre comédia e suspense. E isso é um elogio!
quarta-feira, maio 02, 2018
Mecânica das sombras, de Thomas Kruithof ***
Em termos formais e temáticos, não há nada de especialmente
original na produção franco-belga “Mecânica das sombras” (2016). Não quer
dizer, entretanto, que o filme dirigido por Thomas Kruithof não tenha os seus
atrativos. É um eficiente thriller que se destaca pela sua sóbria narrativa, as
boas composições dramáticas do elenco e pelo pertinente subtexto sócio-político
de seu roteiro. No meio das triviais reviravoltas da trama, a figura do
protagonista Duval (François Cluzet) sintetiza com sensibilidade a figura do
cidadão europeu de meia-idade contemporâneo, assombrado pelo fantasma do
desemprego e pelas estruturas alienantes e kafkanianas do poder repressivo e
tecnocrático – nesse último quesito, o sombrio personagem Clément (Denis
Podalydès) também carrega um forte sentido simbólico.
Assinar:
Postagens (Atom)