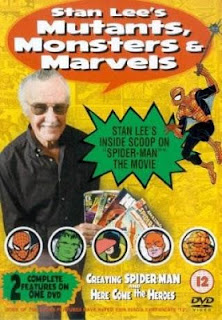A recriação de contos de fada sob um prisma moderno tem
representado uma tendência forte no atual panorama cinematográfico. Até porque
não deixa de ser uma premissa interessante propor uma nova visão de personagens
e histórias que habitam o imaginário cultural há tanto tempo. Nos quadrinhos
tal vertente artística tem gerado resultados expressivos (vide a ótima série “Fábulas”).
A verdade, entretanto, é que no cinema o saldo final de boa parte de tais
produções está longe de ser consistente. “João e Maria: Caçadores de bruxas”
(2013) é um exemplo claro disso. O mote inicial, de modo geral, até seria
interessante: após matarem a bruxa dona da casa de doces que quase os devorou,
os protagonistas tornam-se profissionais na
arte de caçar e exterminar feiticeiras. Apesar disso, parece que o diretor
Tommy Wircola não soube muito bem o que fazer com o material que tinha em mãos.
Na sua concepção, modernizar a lenda seria transformá-la num grande vídeo game
estilo “Resident Evil”, só que colocando bruxas no lugar dos zumbis. O roteiro
mais parece um pretexto picareta para mostrar as feiticeiras sendo mortas de
diversas formas brutais. Não há tensão e muito menos horror – a obra é mais uma
aventura bem bobinha, só que com alguns litros de sangue a mais. E nesse
sentido, até consegue chamar a atenção para um nível até alto de gore dentro
dos padrões de Hollywood, o que rende alguns momentos divertidos para o filme.
Num sentido geral, é como se “João e Maria: Caçadores de bruxas” fosse uma obra
trash classe Z, mas com um orçamento classe A.
Boa parte de amigos e conhecidos costuma dizer que as minhas recomendações para filmes funcionam ao contrário: quando eu digo que o filme é bom é porque na realidade ele é uma bomba, e vice-versa. Aí a explicação para o nome do blog... A minha intenção nesse espaço é falar sobre qualquer tipo de filme: bons e ruins, novos ou antigos, blockbusters ou obscuridades. Cotações: 0 a 4 estrelas.
quinta-feira, janeiro 31, 2013
quarta-feira, janeiro 30, 2013
Lincoln, de Steven Spielberg ***
Antes de mais nada, há de se ressaltar os méritos indiscutíveis
de “Lincoln” (2012). O diretor Steven Spielberg mostra a sua notória capacidade
narrativa ao conceber uma narrativa de quase três horas, repleta de cenas com
longos diálogos e soturnos ambientes fechados, em que o espectador não sente
muito o tempo passar. A direção de arte do filme também é um ponto alto,
trazendo uma interessante combinação entre a fidelidade na recriação histórica
e a estilização. Por outro lado, a produção se caracteriza como um dos momentos
menos inspirados na filmografia de Spielberg no sentido de criatividade. O
grande equívoco da obra está no descompasso do seu texto com a abordagem
concebida pelo diretor. O roteiro aparenta uma intenção desmistificadora ao
colocar que a emenda abolicionista conquistada pelo protagonista
veio à custa de clientelismo e corrupção. Dessa forma, o filme exigiria um
estilo de distanciamento emocional, sem arroubos sentimentais, até mesmo de perfil
irônico, ou seja, uma abordagem que Spielberg já tinha adotado
com brilhantismo no extraordinário “Munique” (2005). O resultado final,
entretanto, é diverso: em várias seqüências de “Lincoln”, ele adota
um estilo entre o didático e o laudatório, quase como se o filme fosse dedicado
a ser exibido em aulas de Moral e Cívica nos EUA. Por mais que a trama procure
evocar que não há uma delimitação tão precisa entre o bem (abolicionistas) e o
mal (escravagistas), o tratamento oferecido por Spielberg se resume a um conto
maniqueísta de mocinhos e bandidos. Pelo menos de cinco em cinco minutos, alguém
profere algum discurso edificante, o que reforça ainda mais o caráter “institucional”
da coisa toda. E nessa onda, até mesmo o elenco acaba embarcando em interpretações
preguiçosas ou destituídas de alguma dimensão humana expressiva – Daniel Day
Lewis e Tommy Lee Jones parecem no piloto automático, enquanto Sally Field se
limita a um histerismo enjoativo.
No final das contas, “Lincoln” acaba reforçando que
Spielberg é um diretor muito mais memorável e capaz de surpreender quando
embarcas nas produções ditas “pipocas” como “Tubarão” (1975), “Os caçadores da
arca perdida” (1981), “Parque dos dinossauros” (1993)e “As aventuras de Tintim”
(2011)
terça-feira, janeiro 29, 2013
O mestre, de Paul Thomas Anderson ****
Analisando a filmografia de Paul Thomas Anderson, pode-se
perceber que a cada filme suas concepções vem ficando mais radicais e distantes
dos padrões comerciais normais do cinema norte-americano contemporâneo. “Sangue
negro” (2007) já evidenciava uma pegada mais próxima da obra de Terrence Malick
e de uma formatação distante de Hollywood. “O mestre” (2012) envereda ainda
mais profundamente nessa linha estética, configurando-se como a obra mais
intrincada de Anderson. O diretor mantém uma atmosfera rarefeita e por vários
momentos contemplativa. A direção de fotografia acentua essa tendência, com
enquadramentos que valorizam paisagens quase desertas, além de possuírem uma
iluminação insólita, que transita entre o realismo e uma certa ambientação de
beatitude. Os movimentos de câmera são precisos, ressaltando uma sensação de
imobilismo que o roteiro evoca. Esse rigoroso conjunto formal configura uma
narrativa etérea e por vezes exasperante no seu detalhismo cênico.
A complexidade estética proposta por Anderson não é
gratuita. A difícil natureza de sua trama é reflexo e complemento dessa ousadia
formal. O roteiro não propõe uma visão simples sobre uma temática tão ampla –
vazio existencial, questionamentos metafísicos, a procura por uma figura
paterna, sexo, morte. O material promocional que associa “O mestre” à
cientologia é equivocado – o filme não se propõe a contar a história de
religião alguma. Na realidade, mal dá para dizer que a sua visão seja mesmo
negativista sobre os sentimentos religiosos de seus personagens. Por vezes, o
fato de Lancaster Todd (Philip Seymour Hoffman) ser uma espécie de pastor é
quase circunstancial. O cerne do filme está na relação que se estabelece entre
Lancaster e o atormentado Freddie Quell (Joaquin Phoeniz) – este admira
Lancaster como uma espécie de pai e conselheiro, mas não consegue acreditar na
sua doutrina. Já o último procura “salvar” Quell, mas no íntimo sente afeição
pelo pobre diabo justamente por ele representar um comportamento libertário e
rebelde ao qual Lancaster não mais se permite como líder religioso. Assim, não
há soluções mágicas ou epifânicas no roteiro – a redenção de Quell é um ideal
muito distante da dura realidade.
Essa abordagem ousada de Anderson rende alguns dos momentos
mais encantadores de “O mestre”, mas também torna o filme um tanto irregular.
Por vezes, sente-se a preocupação extremada da produção em se estabelecer como
“grande arte”, resultando em escolhas que empalidecem a narrativa. Isso se
evidencia em seqüências que adquirem um incômodo tom solene, principalmente no
uso da trilha sonora, que às vezes se insere indevidamente em algumas cenas,
como se houvesse a necessidade de ressaltar a importância delas.
Mas se “O mestre” não atinge o mesmo status de obra-prima
como “Sangue negro”, mesmo assim se credencia como uma experiência
cinematográfica memorável. E só o desempenho antológico de Joaquin Phoenix já
credenciaria o filme como tal. O ator atinge um grau de entrega impressionante,
fazendo uma caracterização física e psíquica que parece pura possessão,
lembrando Daniel Day Lewis no mencionado “Sangue negro”.
segunda-feira, janeiro 28, 2013
Amor, de Michael Haneke ****
No cinema de Michael Haneke, o sentimentalismo passa longe.
A abordagem formal do diretor austríaco é marcada por um rigor estético
inclemente, enquanto em termos temáticos ele filtra a sua visão por uma frieza
cirúrgica. Em “Amor” (2012), suas concepções artísticas são levadas a um
extremo impressionante. A partir de uma trama que tinha tudo para cair em
excessos emocionais fáceis, ele parte para um rumo desconcertante ao dissecar
com minúcias valores caros à própria humanidade. A câmera de Haneke sugere um
observador que se preocupar em detalhar os passos mais expressivos do calvário
de seus personagens. A direção de fotografia é composta por planos-seqüência sutis,
que percorrem sem maiores cerimônias o amplo apartamento que serve de cenário
para o filme, além de expressivos planos fixos que realçam a angústia dos protagonistas.
Essa estética sóbria da produção amplia a tensão sufocante natural que a história
emana. O realismo impresso por Haneke em seu formalismo, entretanto, permite-se
a lampejos cortantes de cinema fantástico, que tanto pode se configurar como onírico
ou até confundir com o delírio. Essa contraposição entre o real e o fantástico
enfatiza, na verdade, aquilo que “Amor” tem de mais contundente: a capacidade
narrativa de fazer com que a trama de um micro-universo se transfigure na
simbologia ácida a retratar as relações humanas. O casal de idosos do filme representa
o ideário daquilo que pode ser caracterizado como mais civilizado na sociedade
ocidental: são cultos e refinados, tem prestígio social, uma filha bem ajustada
e moram num bairro classe média alta. À medida que a doença de Anne (Emmanuelle
Riva) piora, esse equilíbrio comportamental é colocado à prova e não resiste,
desintegrando-se de forma inexorável. Não há espaço para redenção nessa trajetória,
culminando em reações atávicas e violentas por parte de Georges (Jean-Louis Trintignant)
– sua desintegração psicológica, junto à decadência física de Anne, representa
a destruição do moralismo pequeno-burguês. Ou seja, “Amor” é uma verdadeira
paulada sensorial nas nossas cabeças, capaz de ficar ressoando por um bom tempo
no imaginário de seu público.
sexta-feira, janeiro 25, 2013
Celeste e Jesse para sempre, de Lee Toland Krieger **1/2
É provável que vocês, leitores desta resenha, já tenham
visto recentemente uma ou mais produção parecida, a partir de alguns elementos
recorrentes – trama a retratar de uma perspectiva realista o término de um
relacionamento, referências à cultura pop, trilha sonora repleta de temas de
caráter alternativo (ou indie, para os mais moderninhos). Por mais formulaica
que possa parecer tal receita, é inegável que esses filmes acabam ganhando um público
cativo, principalmente pelo fator da identificação que cria com a platéia.
Dentro desse contexto, “Celeste e Jessé para sempre” (2012) atende a essas
expectativas, mas não vai muito além disso. Por vezes, o drama do seu casal de
protagonistas consegue atingir um certo tom
pungente ao enfatizar o aspecto doloroso de uma relação que está se desfazendo.
Mas em termos formais, não há maiores atrativos na narrativa – a diretora Lee
Toland Krieger mais se preocupa em contar direitinho a sua história, sem
maiores arroubos. O roteiro, entretanto, é o ponto mais incômodo: obedece em
demasia a um padrão esquemático e pouco sutil, resvalando num equivocado e óbvio
simbolismo.
quinta-feira, janeiro 24, 2013
Django livre, de Quentin Tarantino ****
É quase impossível escrever sobre um filme de Quentin
Tarantino sem fazer conexões com outros títulos de sua filmografia. Isso porque
esse conjunto de obras representa um universo próprio, que se une por particulares
regras estéticas e conceituais. Assim, tais produções se ligam, trazem
ramificações e suscitam comparações entre si. Dentro desse ordenamento, pode-se
dizer que “Bastardos Inglórios” (2009) representava uma virada importante na carreira
do diretor. Sem abandonar suas concepções peculiares de cinema, era como se
Tarantino procurasse se voltar para um cinema mais “normal” em termos
narrativos, sem utilizar tanto os recursos de citações e referências (ainda que
elas lá estivessem presentes de forma marcantes). Essa ruptura não marcava uma
forma dele se mostrar mais acessível para o grande público, mas simplesmente a
vontade de enveredar por novos caminhos artísticos.
Diante desse quadro, “Django livre” (2012) é a continuação
natural desse novo caminho de Tarantino. Se em “Bastardos inglórios” ele
enveredou por uma espécie de revitalização do gênero do filme de guerra, nessa
obra mais recente ele traz trama e uma abordagem estética diretamente calcadas
nos faroestes espaguetes, que tiveram o seu auge comercial lá pelos anos 60 e
70 (e que de certa forma sempre foram influentes em algumas das produções de
Tarantino, com destaque para “Kill Bill”). É claro que o resultado final de “Django
livre” não é uma cópia exata dos moldes clássicos estabelecidos por Sergio
Leone e afins. O cineasta norte-americano trabalha com alguns dos elementos
mais característicos dos espaguetes (closes e zoom exagerados em profusão,
temas musicais típicos, interpretações um tanto over de seus atores), mas os
subverte de acordo com seus padrões. Tanto que o filme por várias vezes evoca
os preceitos do blackexpoitation (subgênero já revisitado por Tarantino em “Jackie
Brown”).
Se “Bastardos Inglórios” era pautado por um roteiro lapidado
de forma obsessiva e por um rigor formal de sua narrativa, “Django livre” se
mostra como a produção mais caótica da lavra de Tarantino. Seu texto é mais
frouxo, às vezes até com trechos que poderiam ter sido podados na edição (sério,
mas eu nunca esperava ver tantos momentos contemplativos num filme do cineasta,
principalmente naquelas cavalgadas sob um horizonte crepuscular). Também é a
trama mais linear já vista na sua trajetória, tanto que quase não há daquela
idas e vindas no tempo. Na verdade essas diferenças marcam uma divisão
existencial/artística fascinante: enquanto “Bastardos inglórios” é apolíneo na
sua busca pela concisão e perfeição, “Django livre” é dionisíaco no seu
barroquismo e no seu simples desejo pelo prazer sensorial. Ou seja, esse último
talvez seja o mais irregular dos filmes de Tarantino, mas também é dos seus
mais epifânicos e catárticos, pleno de seqüências de uma verdadeira orgia audiovisual.
Mas talvez a melhor forma de traduzir o que significa uma
obra como “Django livre” é tentar expressar uma sensação muito pessoal – aquela
em que um filme pode causar tantos momentos arrepiantes, tanto pela encenação
preciosista quanto por alguns momentos perturbadores de tensão. Serio: é tão
comum nos sentirmos assim numa sala de cinema nos últimos tempos?
quarta-feira, janeiro 23, 2013
O último desafio, de Kim Jee-woon ***
O encontro entre o diretor sul-coreano Kim Jee-woon e o
astro Arnold Schwarzenegger fazia com que as expectativas para “O último
desafio” (2013) fossem consideráveis. Afinal, o mencionado cineasta traz em sua
filmografia expressivas produções como “Medo” (2003), “O gosto da vingança” (2005)
e “Os invencíveis” (2008), enquanto Schwarzenegger voltava a protagonizar
um filme após vários anos se dedicando a política. Apesar do resultado final
ficar um tanto aquém de seus indícios promissores, “O último desafio” ainda
consegue se revelar um produto acima da média. Je-woon se mostra um tanto preso
a determinadas convenções formais e temáticas, típicas de uma grande produção
de Hollywood, mas em algumas seqüências a sua criatividade consegue vir à tona,
principalmente em algumas cenas de ação, evocando um pouco daquela mistura
alucinada de violência cartunesca, ironia e pastiche de faroeste (coisa que ele
já tinha feito de forma ainda mais ousada em “Os invencíveis”). Já em relação a
Schwarzenegger, prevalece uma sensação de que sua figura poderia ter sido
melhor aproveitada, ainda que em algumas cenas ele revele algo daquela presença
de cena marcante típica dos seus anos de auge comercial e artístico.
segunda-feira, janeiro 21, 2013
Jack Reacher - O último tiro, de Christopher McQuarrie **1/2
Na aparência inicial, um filme como “Jack Reacher – O último
tiro” (2012) até teria intenções mais que louváveis: a de resgatar a estética
violenta e casca grossa das produções policiais dos anos 80 (além, é claro, de
render para Tom Cruise mais uma franquia rentável). O grande detalhe,
entretanto, é que Christopher McQuarrie não é Walter Hill ou John McTiernan, e
Cruise está longe de ter o carisma ideal para fazer um protagonista
durão (ainda que Michael Mann tenha extraído dele um desempenho antológico como
um frio pistoleiro na obra-prima “Colateral”). A abertura do filme até engana:
muito bem fotografada e editada, com tensa trilha sonora na medida certa, a seqüência
mostra de forma detalhada e angustiante toda a preparação para um massacre de
civis por um franco-atirador. A boa impressão inicial se esvai quando o
personagem-título entra em cena, com a obra descambando para uma narrativa genérica
e sem personalidade. Por vezes, há algum sopro de vida, principalmente pela boa
encenação de uma perseguição automobilística. Mas o que predomina mesmo é tom
burocrático e sem inspiração da direção de McQuarrie, além de umas das atuações
mais inexpressivas da carreira de Cruise.
sexta-feira, janeiro 18, 2013
Porto dos mortos, de Davi de Oliveira Pinheiro
Muito do que virá nos parágrafos abaixo vem de mails que
troquei com amigos, conversando sobre “Porto dos mortos” (2008). Dei uma certa
editada, mas preferi manter o tom mais coloquial da correspondência.
Uma coisa
que admiro muito no filme é que o Davi soube construir uma atmosfera, um clima
de suspense, no sentido de haver um crescendo de situações que levam a um
clímax de ação ou de violência. Claro que essa construção, às vezes, não é 100%
- em alguns momentos, as coisas ficam meio arrastadas. Isso não quer dizer,
entretanto, que se trata de um filme hermético ou cabeça, como muito andou se
propagando. O que talvez tenha irritado algumas pessoas que viram o filme (de
acordo com observações que colhi na internet) é que o filme não seja tão direto
(no sentido de ser um filme de zumbi tradicional) ou caia numa paródia. Algumas
seqüências são efetivamente assustadoras, principalmente aquela da menina que
entra num local onde há três zumbis. Aquilo ali tem um puta clima de horror
mesmo.
O roteiro tem uma certa impressão de atirar
para todos os lados: há elementos de filme de zumbi, de filmes de possessão, de
produções apocalípticas na linha Mad Max, até daqueles de ataques mentais (no
estilo de algumas obras do Cronenberg – de certa forma, remete à “Combate”,
curta anterior do próprio Davi), e até um pouco de uma verborragia típica de
produções independentes norte-americana (a grosso modo, meio na linha dos
primeiros filmes do Kevin Smith). Acho que essa profusão de referências tira o
filme do lugar comum, pois abre espaço para muitas situações inusitadas, e que
em boa parte das vezes funcionam. Aliás, gosto dos diálogos do filme. Eles
fogem do naturalismo fácil, e partem para um lado mais icônico, meio simbólico.
A fotografia do filme representa um
trabalho ousado e bem feito. Tem movimentos de câmera e enquadramentos
criativos, a iluminação busca uns tons que fogem do habitual, dá para perceber
um cuidado especial na concepção visual em geral. Acho muito interessante a
disposição dos atores e objetos em cenas, no sentido de posicionamento mesmo, dá
para sentir que teve uma preocupação em dar até uma dimensão épica/barroca para
a coisa toda.
Trabalho de trucagem muito eficiente,
parabéns para o Kapel, é raro a gente ver cenas de ação com tiroteio que sejam
convincentes.
A famigerada questão da dublagem: acho que
o que era uma limitação técnica (a falta de condições de ter uma captação de
som razoável) acabou funcionando como um belo truque estético de “Porto dos
mortos”. A dublagem acentua o lado de estilização forte que o filme tem e
valoriza os diálogos do roteiro. E não considero um “defeito” essa variação de
percepção de quando é dublado ou não. Na realidade, boa parte das produções
italianas e brasileiras até metade dos anos 80 se valia de dublagens e isso não
era um fator impeditivo para apreciação dos filmes. Por vezes, essa “limitação”
até possibilitava vôos criativos para os filmes (e que é o que acontece no
filme do Davi). Além da questão da dublagem, considero que o trabalho de edição
de som do filme é muito bom, é só ver, por exemplo, o barulho que aquele carro
faz, o negócio fica ressoando na cabeça.
Sobre o elenco, no geral, o desempenho é
eficiente. O Rafael Tombini tem uma atuação muito interessante, pois a gente vê
que ele é meio desajeitado para desempenhar um protagonista
durão, mas essa falta de jeito justamente dá um certo charme para o personagem.
No mais, o Álvaro Rosa Costa faz um bom trabalho, o guri metido a engraçadinho
que leva um tiro na cabeça e a menina que faz o vilão estão muito bem no filme.
E mesmo quando os atores não são muito expressivos, dá para perceber que eles
conseguem ter uma presença de cena razoável (como o japonês do início, o cara
do arco e flecha e aquele outro que fica tocando aquela flautinha).
quinta-feira, janeiro 17, 2013
Stan Lee: Mutantes, monstros e quadrinhos, de Scott Zakarin **1/2
Em termos formais, “Stan Lee: Mutantes, monstros e
quadrinhos” (2002) é um documentário que não traz ousadias formais, obedecendo
a uma estrutura convencional na sua estrutura narrativa de ficar centrado nos
depoimentos do veterano roteirista de quadrinhos. Mas a verdade é que o público
desse filme não o verá na expectativa de assistir a experiências estéticas ou
afins – o que se quer mesmo é ver o velho Stan falar. E dentro desse objetivo,
a produção mais do que cumpre seus objetivos. Stan Lee mistura didatismo, bom
humor e paixão ao dissecar tanto sua trajetória profissional como a gênese e o
desenvolvimento de suas principais criações (Homem-Aranha, Quarteto Fantástico,
Homem de Ferro, Thor, Hulk, X-Men, entre outros). Ele sabe muito bem do
potencial de tais personagens e explicita as razões do seu sucesso – por mais
poderosos que tais super-heróis possam ser, no seu âmago eles sempre trarão
alguma espécie de fragilidade que os torna tão humanos a ponto de criarem uma
forte identificação com o público leitor. Além disso, o filme consegue oferecer
uma visão bastante realista do impacto mercadológico e cultural que o universo
concebido por Stan Lee causou no mundo dos quadrinhos. O diretor Scott Zakarin
também acerta ao escolher como entrevistador de seu protagonista
o cineasta Kevin Smith, um emérito fissurado por HQs e que consegue extrair de
seu entrevistado uma série de informações fascinantes. Ou seja, para os
apreciadores de “comics” e cultura popular em geral, “Stan Lee: Mutantes,
monstros e quadrinhos” acaba se configurando como um programa obrigatório.
quarta-feira, janeiro 16, 2013
As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky ***1/2
Numa primeira impressão, pode-se dizer que “As vantagens de
ser invisível” (2012) faz parte daquele tipo de filme que nos últimos tempos
praticamente se converteu num gênero – aquelas produções indies que pretendem
retratar as relações humanas de forma mais realista, mas tendo por embalagem um
jeitão pop, cheio de referências e citações culturais de um universo um tanto
específico. Colocar essa produção dirigida por Stephen Chbosky dentro dessa
classificação, entretanto, seria um reducionismo. Não que o filme não traga
alguns desses elementos, mas a sua pretensão artística é bem mais ampla e
interessante. E mesmo tais elementos adquirem um sentido especial na narrativa.
Para começar, o roteiro traz um sofisticado jogo de inversão de perspectiva. O
protagonista Charlie (Logan Lerman) é um jovem
introspectivo e de ambições literárias. Enxergamos a trama do filme pelo seu
olhar, e essa visão é a de um pretenso romancista. Nesse contexto, o que se
passa aos nossos olhos é uma espécie de crônica de costumes tanto de uma família
típica classe média quanto de uma juventude. Não é a toa que em determinada
passagem um professor de Charlie lhe recomenda “O grande Gatsby” de F. Scott
Fitzgerald para ler – Fitzgerald era um exímio dissecador dos costumes dos
novos ricos do início do século XX. Esse paralelo com a literatura traz um dos
aspectos mais inquietantes de “As vantagens de ser invisível” – o filme traz
uma ambientação atemporal, em que não se consegue precisar com exatidão a época
em que se desenrola (pode ser tanto nos final dos anos 90 como em parte desse
novo milênio). A brilhante utilização de uma trilha sonora cancioneira realça
essa impressão de algo fora do tempo e do espaço, e reforça que a visão de
Charlie carrega forte conotação conceitual e
por vezes idealizada, em que os comportamentos diferenciados de seus amigos e
colegas parecem refletir uma gama complexa de sentimentos e atitudes. Só que a
condição de observador do protagonista aos
poucos vai se esfacelando, colocando-o em situações limites e também expondo
seus demônios interiores. Essa transformação da postura do personagem principal
dá uma dimensão artística e humana desconcertante para “As vantagens de ser
invisível”, mostrando que o filme tem um alcance universal muito maior que
aquela catalogação “indie” mencionada no início desse texto.
terça-feira, janeiro 15, 2013
A vida útil, de Federico Veiroj ***
O cineasta uruguaio utiliza uma estética ambígua em “A vida útil”
(2011). Inicialmente, ele adota um rigor
formal quase documental em sua trama fictícia que se desenvolve no ambiente da
Cinemateca de Montevidéu. A sóbria fotografia em preto e branco realça um
ambiente de melancolia e decadência na rotina da instituição. Os funcionários
da cinemateca são interpretados por gente que trabalha realmente lá, inclusive
por seu programador e pelo crítico de cinema Jorge Jellinek (esse último no
papel de protagonista), revelando mais um
traço de uma influência neo-realista. Aos poucos, entretanto, essa ambientação
mais naturalista se abre para uma abordagem diversa, que vai revelando uma
viagem de Veiroj e seu principal personagem por elementos caros ao imaginário
cinematográfico, com claras referências ao cinema mudo e ao expressionismo. Há
um esmerado trabalho visual de claro e escuro em termos de enquadramentos e
iluminação, assim como a trilha sonora revela citações a temas grandiosos,
mesmo que às vezes esse tom épico não esteja de acordo com o tom cotidiano da
trama. Esses contrastes provocam uma sensação de desconcerto e fascinação para
o espectador, jogado “A vida útil” para além do lugar comum.
segunda-feira, janeiro 14, 2013
A viagem, de Lana Wachowski, Andy Wachowski e Tom Tykwer ***1/2
A união dos irmãos Wachowski com o cineasta alemão Tom Tyker
em “A viagem” (2012) não é gratuita. Tanto os brothers quanto o germânico se
consagraram nos anos 90 com obras referenciais onde procuravam estabelecer
novos parâmetros para o gênero ação (os primeiros com a trilogia “Matrix” e o
segundo com “Corra, Lola, corra”). Os Wachowski, mesmo operando dentro de
produções blockbuster, sempre procuraram colocar elementos que beiravam a
vanguarda dentro de suas encenações repletas de trucagens, enquanto Tykwer inseria
sutilmente toques experimentais em meios a obras de estruturas clássicas. Em “A
viagem”, eles retomam essa veia com resultados bastante estimulantes. O filme
pode causar em certo bode por alguns momentos sentimentais em demasia,
principalmente pelo uso ostensivo da trilha sonora exagerada. O que prevalece,
entretanto, é uma narrativa repleta de seqüências de deslumbramento visual,
tanto na estilizada recriação de época nas cenas situadas no passado quanto nos
criativos efeitos especiais e na ação desvairada dos trechos que se desenvolvem
num futuro nebuloso. Para a platéia, pode ser desconcertante uma obra em que
cinema de época e ficção científica se colidem sem cerimônia, aliados a
inesperadas referências cômicas e absurdas, mas essa junção é orgânica,
principalmente pelo roteiro que realça a tenuidade da ligação desses momentos
históricos da trama: o que une as diversas histórias são elementos frágeis,
quase aleatórios, e que seduz justamente por não se prender a recursos óbvios
de ter de explicar todas as pontas soltas do roteiro.
sexta-feira, janeiro 11, 2013
Paris-Manhattan, de Sophie Lellouche **1/2
A obra de Woody Allen não se presta apenas a análises sobre
seus méritos cinematográficos. Seus filmes também servem como uma espécie de
atestado de intelectualidade de seu público. É aquela coisa: “Não gosto de
blockbusters, estou acima disso tudo, gosto mesmo é do Woody Allen”. Não é de
graça que Allen é tão cultuado entre os franceses. Partindo desses preceitos, a
diretora Sophie Lellouche constrói “Paris-Manhattan” (2011), uma
brincadeira/homenagem com o imaginário que ronda o célebre diretor
nova-iorquino. O filme traz muito da verborragia típica dos franceses, bem como
uma abordagem mais realista dos relacionamentos humanos, mesmo que a produção
se formate dentro do gênero comédia romântica. Mas a aproximação que faz com o
cinema de Allen é superficial, o que não deixa de ser um reflexo da própria
forma com que a protagonista Alice (Alice Taglioni)
encara a cinematografia do cineasta em questão, de quem é fã. Assim, mesmo com
Allen tendo uma participação especial interpretando a si, “Paris-Manhattan” está
longe de ter a mesma verve ácida das melhores comédias do diretor homenageado,
mas não deixa de ser uma produção curiosa capaz de despertar algum interesse.
quinta-feira, janeiro 10, 2013
007 - Operação Skyfall, de Sam Mendes ***1/2
Qualquer filme da franquia de James Bond sempre vai suscitar
vários tipos de interpretações, indo do cinematográfico até o sociológico. Com “007
– Operação Skyfall” (2012) isso não está sendo diferente. Em resumo, tem-se
dito que esse capítulo dirigido por Sam Mendes representaria a completa
dissociação do tradicional James Bond da época de Sean Connery, com aquela habitual
dose de cinismo elegante, o que representaria uma espécie de traição ao
personagem. A verdade, entretanto, é que não daria para fazer um filme da série
como se estivéssemos nos anos 60 sob pena de cair na paródia estilo Austin
Powers– o contexto político/social/comportamental é bastante diverso do daquela
época. É claro que o Bond de Daniel Craig está muito mais para um 007 estilo Dirty
Harry, além do roteiro de “Operação Skyfall” trazer uns psicologismos
freudianos um tanto fajutos que se levam demasiadamente a sério. Mas é em
determinados detalhes que o filme ganha uma dimensão antológica. As cenas de ação
são exageradas, mas precisas, sem apelar para modernices estéreis de câmeras
tremidas e estilo “borrão”. A direção de fotografia aproveita ao máximo as
possibilidades criativas que os habituais cenários exóticos da série oferecem,
trazendo cenas de uma riqueza visual impressionante. E para complementar,
Javier Barden no papel de vilão oferece uma caracterização inesquecível ao
combinar canastrice gay e um lado grotesco assustador. No final das contas, é
evidente que “007 – Operação Skyfall” não se enquadra entre as grandes
obras-primas da franquia, mas mesmo assim é um produto bastante acima da média
no que se faz atualmente no gênero aventura/ação.
quarta-feira, janeiro 09, 2013
Gonzaga - De pai para filho, de Breno Silveira **1/2
Dentro da trilogia do diretor Breno Silveira tendo como temática
ícones da música popular brasileira, “Gonzaga – De pai para filho” (2011) é a
obra melhor resolvida. Por um lado, tanto Luiz Gongaza quanto Gonzaguinha são músicos
muito mais relevantes e de perfil mais complexo do que os “breganejos” Zezé Di
Camargo e Luciano. Assim, a saga deles tem mais substância dramática que o
simples elogio ao arrivismo de “Os dois filhos de Francisco” (2005). Por outro,
Silveira dosa melhor o seu habitual sentimentalismo excessivo, conseguindo estabelecer
uma narrativa mais equilibrada, além de estabelecer melhor as nuances humanas
dos relacionamentos entre os personagens, principalmente entre a dupla de protagonistas.
Nesse sentido, o cineasta mostra certa sensibilidade ao conseguir também
delimitar dentro do conflito entre Gonzagão e Gonzaguinha um antagonismo que se
estende ainda para as suas concepções artísticas diversas, em que o baião e o
forró irônico e malicioso do pai se confrontam com os sambas e baladas
engajados e ácidos do filho. É claro que o filme se ressente de uma estrutura
por vezes superficial e episódica, o que atenua consideravelmente o potencial
dramático da obra. Sorte da produção que parte dessa força é resgatada pela
visceral atuação de Júlio Andrade, que ao interpretar Gonzaguinha consegue
fazer uma síntese extraordinária entre aquele espírito malaco do
cantor/compositor e a sua intelectualidade refinada.
terça-feira, janeiro 08, 2013
Os candidatos, de Jay Roach **1/2
A ideia inicial é boa: uma comédia que tira um sarro do
processo eleitoral norte-americano, tendo Will Ferrell como um dos protagonistas.
O resultado final de “Os candidatos” (2012), entretanto, fica aquém das
expectativas promissoras. É claro que dá para sentir nos preceitos da trama e
em algumas sequências do filme uma visão crítica e irônica das hipocrisias típicas
da sociedade norte-americana (e ocidental por consequência). O problema é que o
diretor Jay Roach acaba sendo uma escolha muito comportada para encarar essa
empreitada. A obra exigia uma pegada mais alucinada e ácida. Até que em alguns poucos
momentos o tom do grotesco absurdo prevalece, principalmente quando Ferrell está
em cena (a cena que ele desfere um murro num bebê é uma pérola do humor
politicamente incorreto), mas no geral é dominante uma narrativa esquemática e
genérica. Além disso, ter Zach Galifianakis como o antagonista de Ferrell não
ajuda muito as coisas – sua habitual afetação consegue ser mais irritante do
que engraçada.
segunda-feira, janeiro 07, 2013
Detona Ralph, de Rich Moore ****
Encarado pela maioria das pessoas apenas como um
entretenimento marcado pela lógica comercial, o universo dos games eletrônicos é
marcado por questões contraditórias e fascinantes. Uma delas é que por mais que
um jogo possa ser interessante e popular, seu destino, quase sempre, será o ostracismo
devido aos constantes avanços tecnológicos e também pela necessidade do mercado
de lançar novidades para um ávido público consumidor. Assim, é normal que após
um tempo sejam jogados em um limbo de esquecimento, fazendo que mundos e
personagens simplesmente se tornem uma vaga lembrança no imaginário dos
apreciadores dos games. Por outro lado, a ênfase em notícias sobre a margem de
faturamento desses jogos pode fazer esquecer que na gênese deles, por parte de
seus respectivos criadores, há uma preocupação com a estética e mesmo com a
coerência temática na criação de figuras e ambientes.
Toda essa breve digressão sobre os video games serve para
tentar explicar como a animação “Detona Ralph” (2012) pode causar comoção tanto
por um certo caráter nostálgico como por algumas reflexões que possa causar. O aludido
conceito da descartabilidade é muito bem trabalhado nessa produção da Disney,
no sentido que a trama dá a entender que o maior medo das criaturas que habitam
as máquinas de um fliperama é justamente cair no esquecimento por parte dos
jogadores que com elas se divertem. Não à toa, os jogos que são desativados
provocam o desemprego dos personagens, transformando os personagens em mendigos
(o que poderia até se encarado como uma metáfora à recessão econômica que
castiga os Estados Unidos e a Europa na atualidade). É claro que por se tratar
de uma produção que na sua origem é voltada por o público infantil, “Detona
Ralph” não é uma obra de natureza sombria ou depressiva. Mesmo com esse
subtexto questionador, o diretor Rich Moore estabelece uma narrativa empolgante
e bem humorada, com direito a seqüências de aventura de encher os olhos.
Aliás, o apuro nas concepções formais de Moore estabelece
uma outra espécie de comentário temático. Quanto o protagonista
Ralph transita entre os jogos, partindo de uma espécie de emulação do ingênuo e
básico “Donkey Kong”, passando por algo no estilo do violento e de grafismo bem
detalhado “Call of Duty” e chegando num game marcado por personagens e visual
entre o fofinho e o psicodélico (algo como um “Mário” mais doidão), é como se o
filme estabelecesse a evolução e diferenciação estéticas no universo dos games,
evidenciando as sutis diferenciações de estilização nesse campo,
caracterizando-o também (e por que não?) como arte.
sexta-feira, janeiro 04, 2013
Joy Division, de Grant Gee ***1/2
A relação da banda Joy Division com o cinema não chega a ser
novidade. Os extraordinários “A festa nunca termina” (2002) e “Control” (2007) são
recriações dramáticas da breve e conturbada trajetória da fundamental banda pós-punk
que marcou a virada dos anos 70 para os 80. O documentário simplesmente
intitulado “Joy Division” (2007) mostra que o mito de Ian Curtis e companhia
sempre é inesgotável na sua capacidade de despertar interesse e gerar reflexões.
É claro que o filme se centra nos aspectos biográficos da banda e de seus
integrantes, utilizando bastante o recurso de depoimentos. O valor da obra,
entretanto, vai muito além do mero didatismo histórico. Para começar, há uma
abundância generosa de raras cenas de arquivo de shows e gravações, compondo um
mosaico fascinante que tanto oferece mais informações sobre um grupo tão
envolto em mistérios quanto realça esse aspecto mítico. Também é interessante
que a produção traça um paralelo sobre a origem, a ascensão e o abrupto término
do Joy Division com a evolução da cidade natal da banda, Manchester. Se no
surgimento do grupo a cidade se apresentava como influência capital na sua
música depressiva e desesperada por representar um ambiente em violenta crise
econômica e social, com uma paisagem cinzenta repleta de prédios velhos e sem
opções de lazer, a projeção tanto do Joy quanto da sucessora New Order ajudou a
Manchester a se tornar uma referência cosmopolita para o cenário cultural
ocidental moderno.
quinta-feira, janeiro 03, 2013
O impossível, de Juan Antonio Bayona ***
Há uma esquizofrenia em “O impossível” (2012) – por um lado,
temos um lacrimoso drama familiar repleto de sentimentalismo excessivo e trilha
sonora melosa e grandiosa tocada de forma incessante; por outro, há uma obra
prodigiosa em termos de trucagens e violência gráfica explícita ao recriar o
episódio do devastador tsunami que afligiu a Tailândia em 2004. É quase como se
houvesse dois filmes diferentes dentro de um só. Pode-se dizer que o fator
emocional da produção, com direito a muitas lições de vida sobre perseverança e
união familiar, conquiste parte das platéias, mas a obra se torna realmente
memorável nas seqüências de destruição e brutalidade da invasão das águas, que
impressionam pela qualidade da encenação e da fotografia. Nesses momentos, o
cineasta estabelece um cinema que beira o sensorial, enfatizando detalhes
significativos como o barulho das ondas e a visão caótica de um mundo
desabando. E mostra, por consequência, que essa parte “técnica”, que muitos teóricos
e críticos gostam de mostrar como algo periférico, representa a própria essência
do cinema. Ou vão dizer que o roteiro genérico de “O impossível” é que faz a
diferença??
MELHORES FILMES DE 2012
O critério primordial para os
filmes que estão neste Top 25 é de que sejam produções que tenham estreado no
circuito comercial de cinemas de Porto Alegre no ano de 2012.
1) Drive, de Nicolas Winding Refn.
1) Drive, de Nicolas Winding Refn.
2) John Carter: Entre dois
mundos, de Andrew Stanton.
3) 13 assassinos, de Takashi
Miike.
4) Fausto, de Alexander Sokurov.
5) Os infratores, de John
Hillcoat.
6) Moonrise Kigdom, de Wes Anderson.
7) Precisamos falar sobre o
Kevin, Lynne Ramsay.
8) A febre do rato, de Cláudio
Assis.
9) O espião que sabia demais, de
Tomas Alfredson.
10) As aventuras de Tintim – O
segredo do Licorne, de Steven Spielberg.
11) Pina, de Wim Wenders.
12) Frankenweenie, de Tim Burton.
13) Prometheus, de Ridley Scott.
14) Os homens que odiavam as
mulheres, de David Fincher.
15) A invenção de Hugo Cabret, de
Martin Scorsese.
16) Heleno, de José Henrique
Fonseca
17) Projeto X, de Nima Nourizadeh
18) Luz nas trevas, de Helena
Ignez e Icaro C. Martins
19) Cosmópolis, de David
Cronenberg
20) As vantagens de ser
invisível, de Stephen Chbosky
21) Flores do Oriente, de Zhang
Yimou
22) A toda prova, de Steven
Soderbergh
23) Os vingadores, de Joss Whedon
24) O homem da máfia, de Andrew
Dominik
25) Argo, de BenAffleck
Menções honrosas: filmes que vi
nos cinemas no ano de 2012 e certamente estariam na lista acima, mas que foram
vistos em festivais de cinema, ou seja, fora do circuito comercial das salas de
Porto Alegre. Dentro de tal conceito, foram destaques as seguintes produções:
- Enter The Void, de Gaspar Noé (Festival Internacional de Cinema de Montevidéu)
- Essential Killing, de Jerzy Skolimowski (Festival Internacional de Cinema de Montevidéu)
- O alvo, de Alexander Zeldovich (FANTASPOA)
- Enter The Void, de Gaspar Noé (Festival Internacional de Cinema de Montevidéu)
- Essential Killing, de Jerzy Skolimowski (Festival Internacional de Cinema de Montevidéu)
- O alvo, de Alexander Zeldovich (FANTASPOA)
quarta-feira, janeiro 02, 2013
Atividade paranormal 4, de Henry Joost e Ariel Schulman **1/2
A estética apresentada nas duas primeiras partes da franquia
“Atividade paranormal” já havia apresentado um desgaste. Não daria para
simplesmente apostar na mesma fórmula nas produções seguintes. Os diretores
Henry Joost e Ariel Schulman tiveram essa percepção e em “Atividade paranormal
3” (2011) apresentaram algumas novidades saudáveis para a série. Apesar de
ainda utilizar aquele formato de falso vídeo amador, com predomínio exclusivo
de uma câmera subjetiva, o filme demonstrava um apuro formal mais cuidadoso,
assim como buscava estabelecer uma trama mais consistente em seus elementos
dramáticos. O resultado foi o melhor filme disparado da série. Joost e Schulman
adotaram essa mesma abordagem em “Atividade
paranormal 4” (2012). Apesar do resultado não ser tão animador quanto na
produção anterior, é inegável que a dupla de cineastas conseguiu estabelecer um
padrão de qualidade razoável, afastando um pouco daquela pecha de mera
curiosidade marqueteira que fazia a má fama da série. Se bem que se pode ficar
com aquela impressão que certos detalhes de roteiros e a própria qualidade das
trucagens poderiam ter sido melhor aproveitados ou trabalhados.
Assinar:
Postagens (Atom)