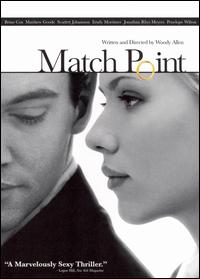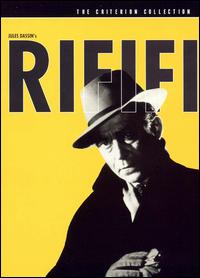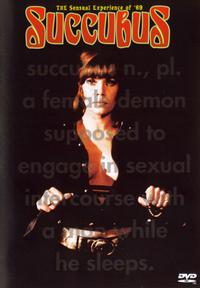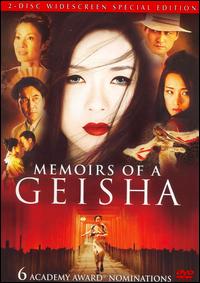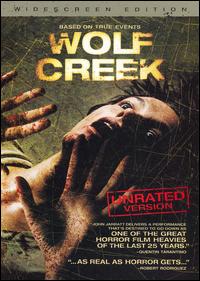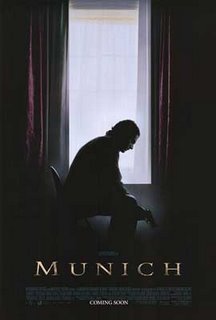Noites Brancas, de Luchino Visconti ****
Noites Brancas, de Luchino Visconti ****Quando se pensa na filmografia do diretor italiano Luchino Visconti geralmente o que nos vem à mente são dois momentos bem distintos em sua carreira: os primeiros filmes bastante influenciados pela estética neo-realista e fortemente melodramáticos (“A Terra Treme” e “Rocco e Seus Irmãos”) e os últimos trabalhos com uma acentuada vocação operística e marcados pela estética da decadência (“Ludwig” e “Morte em Veneza”). Curiosamente, “Noites Brancas” é uma obra que não se enquadra em nenhuma dessas linhas, mas mesmo assim traz a indelével marca pessoal e estilística desse brilhante cineasta.
Baseado em um conto de Dostoyevsky, “Noites Brancas” é uma bela e amarga história de amor, tendo como mote o conflito de Mario (Marcello Mastroianni) em abrir mão da mulher que ama (Maria Schell) em nome da felicidade da mesma. Visconti mostra toda a sua maestria ao orquestrar com o seu habitual requinte o pano de fundo e o clima adequados para a sua trama. O diretor faz da cidadezinha onde se desenrola o seu roteiro praticamente um personagem do filme. A brancura de neve das suas ruas e a sua estrutura quase labiríntica parecem um reflexo da melancolia que permeia a trama, sendo que a fantástica fotografia colabora com sensibilidade para essa relação.
Chama atenção ainda em “Noites Brancas” a interpretação de Marcello Mastroianni, numa caracterização bem diversa do tipo sedutor que normalmente ele costumava interpretar. O seu Mario está muito mais para um registro romântico e ingênuo, o que acaba resultando em uma das atuações mais memoráveis de Mastroianni e que dá o complemento ideal para o espírito do filme.