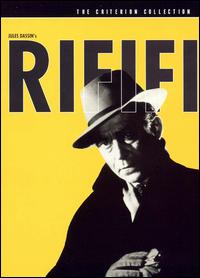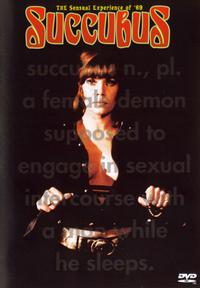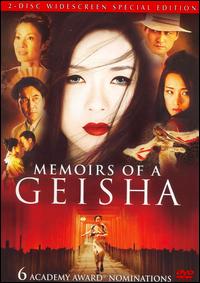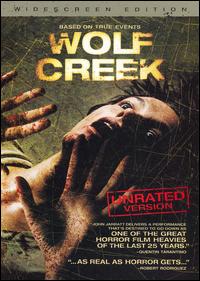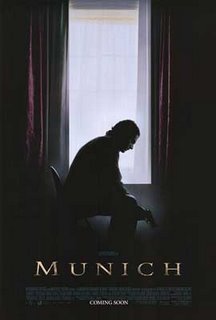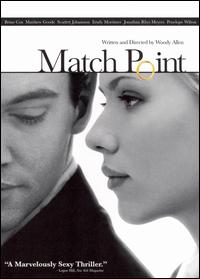 Match Point, de Woody Allen ****
Match Point, de Woody Allen ****O fato da trama de “Match Point” se ambientar em Londres pode fazer supor que algo tenha mudado no mundo de Woody Allen. Pura ilusão. Um dos grandes baratos desse genial cineasta é justamente não mudar. O que Allen sempre fez e sempre vai fazer é retrabalhar os seus assuntos favoritos e recriar brilhantemente suas fórmulas. Talvez ele seja o exemplo perfeito da máxima de Nelson Rodrigues: o homem é a soma de suas obsessões.
Nessa produção de 2005, o diretor traz a tona novamente a questão da culpa e expiação, temática essa que com a qual ele já havia trabalhado de forma inesquecível no impecável “Crimes e Pecados”. Isso não quer dizer, entretanto, que ele apenas troque os personagens para fazer o mesmo filme. Muito pelo contrário. Em “Match Point”, Allen vai ainda mais longe, chegando ao ponto de fazer uma homenagem às avessas ao clássico da literatura “Crime e Castigo”, de Dostoiewiski. Na verdade, o que vemos é uma tiração de sarro com o livro: na visão desiludida e cruel do diretor, em um mundo impiedoso e cínico como o que vivemos, já não há mais espaço para sentimentos típicos de uma visão romântica como culpa ou desejo de redenção.
Um dos traços mais típicos da obra de Woody Allen é o fato de que nos seus filmes os limites entre a comédia e o drama são tremendamente difusos, o que faz com que quem assiste aos mesmos fique desconcertado ao não saber precisar onde termina o drama e começa o riso. O próprio diretor brincou com essa sua característica particular em uma das suas produções mais recentes, “Melinda e Melinda”. Em “Match Point”, essa dualidade entre o cômico e o dramático é novamente retomada com maestria. Há seqüências que impressionam pela densidade dramática e pela tensão gerada pela expectativa em se saber como o protagonista Chris Wilton (Jonathan Rhys-Meyers) vai se safar de uma teia de problemas que vai ficando cada vez mais intrincada, ao mesmo tempo em se têm momentos marcados por uma sutil ironia em relação ao ridículo das situações expostas.
É de se destacar ainda as intensas atuações que Allen consegue extrair do seu elenco, principalmente do casal de personagens principais. Jonathan Rhys-Meyers oferece uma interpretação cheia de sutilezas e nuances, conseguindo uma incrível empatia para o seu Chris Wilton: mesmo com ele sendo um puta de um canalha, chegamos até a ter pena do cara e torcemos para o nosso anti-herói saia das enrascadas em que se meteu. Em relação a Scarlett Johansson o resultado não é menos impressionante: Nola Rice, personagem da atriz no filme, vai sofrendo durante a trama uma transformação notável, começando como uma doce e dissimulada garota de beleza quase etérea até chegar a uma verdadeira megera enfurecida.
Por tudo isso, “Match Point” é uma obra-prima que pode figurar tranqüilamente nos pontos altos da respeitável cinematografia de Woody Allen, um dos diretores de visão e estilo mais singulares da história do cinema.